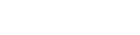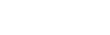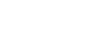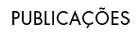|
 |

Acadêmico: Massaud Moisés
"Honroso o convite, desvanecedora a insistência, prazeroso e fecundo será certamente o convívio com os seus membros, no encalço dos mesmos ideais que me acompanharam e guiaram ao abraçar a carreira universitária. Ideais esses resumíveis numa única frase: a luta contra a desumanização do ser humano, no culto das idéias e das crenças que lhe permitam regressar a si mesmo, à sua intrínseca natureza, e a dos seus semelhantes, para fazer face à crise de valores que nos ameaça de todos os lados."
Senhor Presidente
Senhores Acadêmicos
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Durante algum tempo enfrentei muitas dúvidas para me decidir como dar início a esta fala acadêmica. Até que acabei optando pela seguinte frase: "O que tem de ser, traz força". Sempre acreditei nestas palavras, carregadas de "um saber de experiências feito", como diria o Poeta. Alguém talvez me perguntasse, movido por um ceticismo crônico, amparado em dogmas científicos: não significará crença na fatalidade? No maktub de milenar história? E a resposta poderia ser mais afirmativa do que negativa, notadamente se encararmos a questão de um ângulo específico, aquele em que o intelecto cede lugar, não à irracionalidade, mas à suspeita de que a razão, por mais poderosa que seja, não cobre todos os fenômenos da realidade, nem consegue explicar tudo o que acontece à nossa volta. Nem poderia ser de outro modo, se o que nos congrega neste momento é uma atividade que, embora reclame a consciência como instrumento de percepção e de construção, não se realiza sem o concurso de outras faculdades e de outros instrumentos de captação do real, um dos quais, a fantasia, não é o menos atuante. Ainda que tudo isso pertença ao domínio das noções óbvias, nunca é demais recordar que daí partimos: não raro é por esquecermos o óbvio que muitos debates inúteis nos roubam o precioso tempo.
Afinal, não é para menos que uma pessoa tem todos os seus ancestrais nas montanhas do Líbano, até os seus progenitores, desembarcados nestas plagas no começo do século passado, fugidos da intolerância étnica e religiosa. Para aqui se estabelecerem, criarem família, longe da Pátria, mas também longe da perseguição de que eram vítimas por serem maronitas e descendentes dos fenícios. Sem esquecer jamais o solo nativo, vieram encontrar neste recanto das Américas uma pátria nova, a liberdade de pensar e de agir, e a possibilidade de uma vida digna. Não mais regressariam às colinas onde pastoreavam o gado, não o seu, evidentemente, mas o alheio, como uma antevisão lírica do Caeiro pessoano, concidadão fictício de um povo que lhes herdou o sangue e muito mais, inclusive, quem sabe, esse olhar sem metafísica que o mestre dos heterônimos derramava, à maneira zen, sobre a natureza. E que, tanto como eles, se limitara a guardar idéias e sensações, à falta do rebanho e das ondulações do terreno onde um dia os antepassados ergueram, às margens do Mediterrâneo, o porto de onde arrancariam para a sua grande aventura nos mares. E de onde partiriam mais tarde os seus descendentes, acossados pela tirania e pelo racismo, para construir noutras terras, numa diáspora que os tem feito cidadãos do mundo, a existência que lhes era negada.
Aqui estou, impelido por essas reminiscências que recebi como uma história simbólica, cheia de significados e lições de vida, para assentar-me entre árcades de tempos apocalípticos, a pastorear nuvens como "fazendeiros do ar", mas que a um só tempo ainda acreditam em algo mais do que o materialismo bruto que impera por toda parte. Quiseram os Fados, ou as circunstâncias, que me fosse destinada uma cadeira nesta academia cujo ocupante anterior mais próximo foi Marcos Rey. Por que esta e não outra, se todas se equivalem neste circuito democrático de idéias, sentimentos e aspirações? Jung, como sabemos, não acreditava em acaso, mas em coincidências significativas, sob a égide da sincronicidade, como aquela da borboleta preta que a clarividente imaginação machadiana, ancorada na observação penetrante da sociedade fluminense, convocou por duas vezes nas Memórias Póstumas de Brás Cubas. Volvendo a atenção para os que me precederam, quem sabe descubra a razão secreta que me trouxe para a cadeira em que assentaram.
Dois deles remontam ao tempo da minha adolescência, quando as janelas que davam para o vasto mundo das letras se me abriam com o encantamento que acompanha as grandes descobertas, aquelas que trazem no bojo as sementes de um destino. Um deles, líamos como a um autor maldito, cujo romance pertencesse ao inferno das bibliotecas, em razão das cenas picantes, dum erotismo que nos incendiava a imaginação, tanto mais que era um autêntico fruto proibido. Refiro-me ao patrono da cadeira 17, Júlio Ribeiro, e à sua obra A Carne, marcada por algumas passagens transbordantes de sensualidade, de acordo com os padrões naturalistas defendidos por Zola e seguidores, e que motivariam acesa polêmica com o Padre Sena Freitas.
Envelhecidas para sempre, essas páginas, candentes de um erotismo artificial, cerebrino, de gabinete, produto da tese forçada e cientificamente simplista que comandava o enredo, não conseguiriam sequer atrair a atenção dos meninos de hoje, habituados que estão ao festim erótico que presenciam nos diversos veículos de comunicação de massa, e cuja experiência de vida é notoriamente precoce para se extasiar ante cenas descritas com a tinta fosca das ciências. Para nós, era o acesso ao interdito, que a Literatura, com o seu poder de imitar e transfigurar a realidade, nos oferecia como um prato de incomparável sabor. Éramos gratos por isso, sem saber ainda com clareza que o devíamos ao poder demiúrgico da imaginação verbal, território próprio dos que lidam com a palavra para arquitetar mundos paralelos com os versos ou a prosa narrativa. Em suma, éramos devedores da Literatura, a ponto de alguns de nós ficarem para sempre seduzidos por ela, enquanto outros, mais pragmáticos ou mais imediatistas, singraram outros caminhos, mas sem jamais a perder de vista, buscando nela um conforto e um modo de conhecimento da realidade que não se encontram facilmente noutra parte.
Os Lusíadas logo se insinuaram em nossas vidas, como pasto para a análise lógica que então se fazia. Se não chegamos a abominar a saga dos Descobrimentos lusitanos, ficamos por muito tempo indiferentes à poesia que a epopéia camoniana jorrava em muitos dos seus dez cantos. Parecia-nos, como a tantos jovens daqueles dias, que o poeta a escrevera para que os estudantes que éramos aprendêssemos uma técnica cuja utilidade nos fugia ao entendimento. O tempo veio dizer-nos que tínhamos razão em recusar as oitavas camonianas como simples matéria de aprendizado da língua segundo a mecânica dos diagramas.
Pouco demorou, no entanto, para nos darmos conta de haver ali também passagens que faziam coro às cenas ardentes de A Carne. E fomos procurá-las ansiosamente na edição do poema camoniano que tínhamos à mão, como a mais autorizada, preparada por um estudioso da Língua que gozava de largo e merecido prestígio - o Reverendo Otoniel Mata - e era o segundo ocupante da cadeira 17. É fácil imaginar a surpresa que estava à nossa espera: por compreensíveis motivos de ordem pedagógica, o episódio da Ilha dos Amores havia sido retirado, o que nos acendeu ainda mais a vontade de conhecer a descrição do escaldante encontro amoroso dos navegantes e as ninfas na viagem de regresso à Pátria. Por outro lado, a edição, organizada pelo filólogo de mão-cheia, ofertava-nos em compensação um prato quase tão apetitoso, para quem como nós íamos também na demanda de outros horizontes: as suculentas notas de rodapé, que nos descortinavam outros mistérios impregnados de fascínio, os da estrutura da língua portuguesa, que começávamos a devassar com não menos curiosidade e avidez.
Estava escrito que um romancista, também gramático de renome no seu tempo, e um filólogo de sólida formação e senso didático, igualmente autor de narrativas regionais (Selvas e Choças, 1922), algumas delas trançadas com declarado "intuito pedagógico" (pref. do A.), o qual lamentava (em artigo publicado na revista desta Casa, em 1946) não terem sido referidas pela crítica nem como integrantes da literatura regional que se produzia no começo do século, nem, menos ainda, como obra pioneira - estava escrito, dizia eu, que ambos participariam mais de uma vez em minhas andanças literárias.
Não muito diverso o quadro oferecido pelo fundador da cadeira 17, Sílvio de Almeida. Advogado de profissão, pagou o seu tributo juvenil às Musas com as Efêmeras (1893), prefaciadas elogiosamente por Raimundo Correia, e que cruzaria também os meus caminhos graças aos estudos em torno de assuntos portugueses, muito respeitados no seu tempo, como os dedicados à lírica e à prosa medievais, O Antigo Vernáculo (1902), A Máscara de um Poeta (1913), em que atribui a Bernardim Ribeiro e não a Cristóvão Falcão a autoria da égloga Crisfal, e Estudos Camonianos (1925), centrados em questões estilísticas, gramaticais e de interpretação textual. Envolveu-se também na controvérsia em torno da autoria das Cartas Chilenas, atribuindo-as a Cláudio Manuel da Costa, em artigo publicado na revista desta Casa ("O Problema das Cartas Chilenas", nº 12, dez. 1940).
Outro tanto se pode dizer de Afrânio do Amaral, que sucederia ao Reverendo Otoniel Mata. Formado em Medicina, foi professor de Medicina Tropical em Harvard; deixou larga colaboração jornalística em que os temas científicos, e não só da área médica, dividiam o espaço com questões lingüísticas. Às duas vertentes do seu trabalho consagrou os volumes Biologia e Lingüística (1945) e Linguagem Científica (1976), reunião de estudos gramaticais aplicados à Ciência.
Com a morte de Afrânio do Amaral, era chegada a vez de um historiador ocupar a cadeira 17. A escolha recaiu em Ernâni Silva Bruno, um curitibano cedo aclimatado a S.
Paulo, que eu encontrava com freqüência na editora Cultrix, não raro com o seu cigarro de palha e um sorriso levemente irônico, expressão de uma vivacidade de espírito e um despojamento de personalidade que se comunicavam espontaneamente aos seus interlocutores, bem como lhe pontilhavam os escritos. A Historiografia como discurso de rigor era o cerne do seu projeto como escritor, uma historiografia feita com paixão e largo descortino, que recolhia tudo quanto pudesse esclarecer o passado, sem maiores pretensões de dizer a última verdade. A história de S. Paulo monopolizou-lhe a atenção em primeiro lugar, como se rendesse homenagem à terra que o acolhera e lhe dera as condições para definir-se e realizar-se como intelectual. Por ocasião do 4º Centenário da Cidade, publicou em 3 alentados volumes a História e Tradições da Cidade de São Paulo (1953), que a crítica militante receberia com justos elogios. Outras obras se seguiriam, ora voltadas para o estado de eleição, como Viagem ao País dos Paulistas (1966), ora para o Brasil na variada gama da sua história e geografia, como os 9 volumes que organizou para enfeixar as Histórias e Paisagens do Brasil (1959), ou os 7 volumes da sua História do Brasil- Geral e Regional (1966-1967). A maioria, como se vê, obras de fôlego e com mais de um volume, dando mostras da visão ampla e multifacetada que Ernâni Silva Bruno tinha da nossa história, fosse a de S. Paulo, fosse a do Brasil, vazadas num estilo que tinha na fluência e na elegância a sua marca distintiva.
O entranhado amor a S. Paulo também conduziria a esta Casa um paulista da gema, mais propriamente um paulistano, ao qual tenho muito gosto em suceder: Marcos Rey, pseudônimo de Edmundo Donato. Deixou memória viva, pela flagrância com que retratou S. Paulo e soube ser o seu cronista, o cronista que faltava para revelar meandros pouco visitados desta metrópole. Vasta obra constitui o seu espólio literário, cerca de 40 livros, distribuídos pela ficção, a crônica e as obras infanto-juvenis, além dos textos que produzia para atender a encomendas que lhe vinham da rádio, do teatro, da televisão e do cinema. Chegou a escrever cerca de 30 roteiros cinematográficos, e algumas de suas histórias foram transformadas em filmes ou em séries televisivas. Em qualquer desses setores ganhou notoriedade e difusão pouco vulgares, mas julgo que é como ficcionista e cronista que importa recordá-lo neste momento.
A estréia no romance deu-se em 1953, com Um Gato no Triângulo, no qual já se manifestavam as características que fariam dele o escritor que foi: o olhar voltado para a cidade e os seus mistérios, a acuidade na percepção e fixação dos tipos humanos mais representativos do jeito de ser paulista, especialmente dos anônimos, onde se escondia decerto a identidade mais fidedigna do burgo industrial e que escapa ao olhar apenas interessado no progresso e na utilização de vetores culturais vindos de fora. Por fim, e não menos importante, o estilo desataviado, quase sem literatura, um estilo sem estilo, e que por isso mesmo se destaca inconfundivelmente, por não se vergar aos modismos ou às soluções eruditivas de linguagem, um estilo de quem pretende ser entendido por toda a gente e não apenas pelos intelectuais de vanguarda. Em síntese, um estilo de cronista que fala com o leitor como um igual, um igual à espera da crônica semanal ou da narrativa flagrando cenas do dia-a-dia que ele não percebe porque apressado ou porque tem o pensamento voltado para outro lado. Estilo de repórter, mas de repórter que domina o Idioma na sua nascente e no seu reservatório, a fonte viva da linguagem, a falada pela gente humilde, que inventa continuamente soluções novas para exprimir os lances vários da experiência cotidiana. Um estilo repassado de sentimento e de empatia pelo povo, a serviço de uma comédia humana dos que não têm voz, uma comédia humana do submundo, formada por outros títulos, alguns dos quais traduzidos no estrangeiro, como se estivéssemos ante um Balzac dos humilhados e ofendidos, dos marginais, enfim, dos boêmios, "pouco amantes do sol e do ar puro" nas palavras do próprio autor: Café na Cama (1960), Entre sem Bater (1961), Ferradura dá Sorte? (1963), O Enterro da Cafetina (1967), Memórias de um Gigolô (1968), O Pêndulo da Noite (1977), Soy Loco por ti América! (1978), etc.
É hora de finalizar. Em outra academia, a Universidade de São Paulo, ingressei em março de 1951, por convite do Professor Antônio Augusto Soares Amora, que também pertenceu ativamente a esta Casa, chegando mesmo a presidi-la (1991-1994), para integrar um grupo de trabalho que ele liderava com todo o seu brilho de intelectual, pesquisador e didata. E assim permaneceria até 1973, quando o sucedi no mais alto posto da carreira universitária. E de lá não saí ainda, continuando a ministrar cursos de pós-graduação e a orientar estudantes. Alguns amigos instaram comigo que viesse ocupar um assento nesta Academia, e graças a eles vim a saber que ainda contava aqui com outros amigos. Honroso o convite, desvanecedora a insistência, prazeroso e fecundo será certamente o convívio com os seus membros, no encalço dos mesmos ideais que me acompanharam e guiaram ao abraçar a carreira universitária. Ideais esses resumíveis numa única frase: a luta contra a desumanização do ser humano, no culto das idéias e das crenças que lhe permitam regressar a si mesmo, à sua intrínseca natureza, e a dos seus semelhantes, para fazer face à crise de valores que nos ameaça de todos os lados. A Literatura, continuo a crer, como decerto os ilustres acadêmicos que me ouvem, é um espaço privilegiado para se travar essa luta ou, ao menos, para suscitar que se desenvolva ao nosso redor a consciência da sua necessidade, para, em suma, como diziam os surrealistas, inspirados em Rimbaud, "mudar a vida".
 voltar
voltar