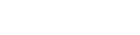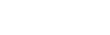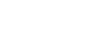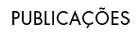|
 |

Acadêmico: José Fernando Mafra Carbonieri
Em seu discurso de posse, o Acadêmico José Fernando Mafra Carbonieri relembra suas influências literárias, entre eles, o também acadêmico Francisco Marins.
Começo o discurso subindo uma escada. Nada radical ou perigoso: os degraus são largos, é uma escada interna, segura, acarpetada, de dois lanços, iluminada no patamar por um janelão envidraçado. Estou em minha casa.
Chego a um vestíbulo de distribuição. A minha frente, e sempre me sugerindo que eu não o perca de vista, como se isso fosse possível, avulta um móvel escuro, de imbuia arca e oratório.
Melhor não abrir a arca. Ainda não tive tempo de arrumá-la. Não falemos sobre a desordem escondida. Mas o ora-tório já está como eu quero. Ali, pelas prateleiras, alguns livros rigorosamente escolhidos se expõem numa convivência grave, tão diversos, tão contraditórios, todos com a sua lógica e a sua verdade, diferentes mas juntos, símbolos da tolerância sem a qual a cultura não sobrevive. Que livros são esses?
Várias edições da Bíblia em cinco línguas ocidentais. O Corão, em português. Uma história da origem do direito com o fac-simile do suor e do sangue, os documentos mais antigos e mais contemporâneos da humanidade. Uma biografia sintética de Darwin. A Origem das Espécies, dele. A Interpretação dos Sonhos, de Freud. As grandes religiões, não apenas uma, e o trajeto de sua busca na definição do homem e de seu sentido.
Não há bibliotecas insólitas. É da natureza da biblioteca reunir e ativar o antagonismo das ideias porque só assim elas permanecem vivas. Fé. E razão.
Biblioteca não é um sistema de confrontos. A biblioteca será sempre a organização dos rumos possíveis.
Contra a parede, ladeando a arca, pilastras romanas sustentam à direita e à esquerda um sábio chinês, muito velho, curvado, irônico, insuspeito, as rugas esculpidas em marfim. São dois mandarins de loja que se têm por um gosto e por um preço. Atenuo a culpa dessa posse imaginando que os manda-rins tenham sido talhados nas presas do mesmo elefante. Minha consciência ecológica economiza ao menos um elefante.
E o que dizem os sábios de marfim pálido e polido? Eles dizem, acreditem na palavra justa e na cortesia de sua expressão. A dialética jamais foi incompatível com a civilidade.
Eu passo por eles, reverentemente, e pela porta do compartimento à esquerda. Vou até o fundo, a obscuridade não me faz esbarrar em nada, agora o móvel é uma cômoda com gavetas, a antiga camiseira, de nogueira e brilhos de verniz. O silêncio da casa e até as suas sombras respeitam as cintilações deste canto. Quando me livrei das toalhinhas de crochê e outros enfeites, estendi no tampo da camiseira um pequeno tapete retangular, sóbrio e evocativo.
Em cima do tapete estão dois retratos com moldura simples. Afastados, um contra o outro em ângulo suave, o re-trato à direita mostra um homem e uma mulher. Eles me olham. Eles estão comigo. Eles são o que eu sou. Não poderiam faltar quando o seu filho mais velho vestiu um terno escuro e laçou uma gravata para tomar posse da cadeira 26 da Academia Paulista de Letras.
Olhando o retrato eu os recebo como se o tempo não tivesse reduzido tudo a imagem e se petrificado em memória. Eu digo a eles, entrem no meu discurso, ainda que rouco e trôpego, meu discurso é uma casa de palavras que construímos juntos aida toda. Entrem, e fiquem. E eles entram, e ficam, e me segredam ao ouvido, existimos, e existiremos enquanto ocuparmos um lugar no seu discurso e na sua lembrança.
E o retrato à esquerda?
Sou eu, com a beca da faculdade, arrogante e sem barba. Mas quem não é arrogante e sem barba aos vinte anos? A vida corrige isso. A vida, com o seu senso de fatalidade, e sua indiferença, corrige tudo com impiedosa simetria. Essa verdade me levou a escrever uma oração profana, pois a poesia é isso, sobre o efeito cicatrizante do afeto em nossa biografia pessoal de acertos e desacertos. A oração profana chama-se Poema para Uso Interno.
O mal
o mal profundo não me acontece
Eu sou o José da casa
e se acontecer
o mal profundo não me tocará
Basta que eu volte para casa
e fale olhando os olhos a meu redor
Eu sou o José
É de muita responsabilidade ser o José
Então serei o José falando
Por um momento
estaremos todos encarcerados
na mesma surpresa
O mesmo vento iluminará nossos corpos
Um cansaço único pesará na casa
como sono antigo
Mas antes que a surpresa seja profundamente má
eu sentirei nos ombros
um afago de mãos brandas
um sorriso abrirá portas e janelas
uma voz grave dirá
isso não é nada
Eu terei certeza de que não foi nada
Nada me aconteceu
Sairei da sala José como sempre
e nesse dia
verei mais longamente as aves da rua
algumas raras
outras atropeladas
a maioria de bico recurvo e olho pestilento
Um poema amargo. Mas o seu uso sempre me foi eficaz, às vezes acariciante, às vezes no extremo da nostalgia, porém, não permitindo nunca que a desesperança embaçasse a minha lucidez. A educação que adquiri através da escola pública incluiu na sua realidade uma galeria de retratos sem corpo físico, vultos da ciência, da arte e da filosofia. Abstratos. Sobreviventes. Estranhamente reais. Sombras vitais. Íntimos. Essenciais. Platão. Leonardo. Shakespeare. Balzac. Einstein. Eça. Machado. Lobato. Graciliano. Clarice.
Eternos. Eternos enquanto dure a cultura ética e resista íntegra a comunidade da palavra literária, filosófica ou científica.
Tempos antigos. A escola era o Instituto de Educação “Dr. Cardoso de Almeida”, e a cidade, então com quarenta mil habitantes, serrana e de noites frias, de violeiros e estudantes de piano, ostenta o nome de Bons Ares, ou Botucatu no idioma nativo. Ela aparece nos meus livros com outro nome, Santana Velha, mas a névoa da manhã é a mesma, na rua ou na página, e a gente, subindo ou descendo as escadarias da Catedral, e os sinos, os sinos da memória, com voz e luz, dobrando e reverberando em bronze pelos telhados.
Naquela escola, para os meninos do grupo escolar e do ginásio, ou para os adolescentes do científico, do clássico e do curso de formação de professores, Hernâni Donato e Francisco Marins também eram retratos sem corpo físico, remotos como Jorge Amado e Erico Verissimo. Distantes. Admirados. Estariam na cidade? Iriam à missa das dez? Tomariam sorvete no Cine Bar? Gostariam de Bergman? Iriam ao Paratodos para ver Hitchcock? Passeariam na Rua Amando de Barros ou no Bosque frente ao Cine Cassino? Poderiam ser vistos numa quermesse? Quase improváveis não fossem os volumes que nos atraíam nas bibliotecas do Instituto e do Centro Cultural, ou nas estantes da Casa Camargo e da Casa Carlos as livrarias de minha infância. Nas Terras do Rei Café. Filhos do Destino. Clarão na Serra. Chão Bruto.
De algum modo nossos professores, a obra de Hernâni e Marins, se somada, atinge cerca de cem livros duma coleção qualificada, expondo literatura infantil, ou juvenil, e história, biografia, divulgação cultural, conto, novela, romance. E tudo o que isso significa de pulsação emotiva, aliança humana, invenção especular do mundo, marca estilística, entendimento e posse da vida. Esses escritores foram os guias mais próximos de minha geração. Eles me trouxeram hoje a esta sala.
Recordo que em outra sala, no ginásio, um professor chamou a atenção dos alunos: Francisco Marins tinha apenas quinze anos quando escreveu Nas Terras do Rei Café.
Recentemente perguntei ao Marins, isso é verdade ou lenda? Ele riu, quinze anos? Não. Eu já estava com dezessete.
-II-
Agora eu sou o zelador do álbum de retratos da cadeira 26 da Academia Paulista de Letras. A capa do álbum emoldura o rosto do patrono, Martins Fontes, que nasceu e morreu na orla santista. As datas extremas são 1884 e 1937 período de transformação cultural e política no Brasil, com o Modernismo de 22 e a Revolução de 30.
Porém, Martins Fontes, médico e positivista teórico, aceitava não apenas a filosofia de Augusto Comte, também os princípios da estética parnasiana, dos versos esculturais e medidos sob o manto da trindade, Bilac, Raimundo e Vicente. Acontece que Martins Fontes era um homem de bondade transbordante e de solidariedade sem métrica. Médico, filho de médico, atuou ao lado de Oswaldo Cruz na campanha de saneamento do Rio de Janeiro. Tisiologista, conferencista, poeta, seu compromisso imediato e nobre era com ele mesmo, e isso se resolvia no combate cotidiano contra o sofrimento e as carências humanas. Até hoje a consternação por sua morte, em 1937, encontra ressonância nos registros históricos.
Há um poema de Martins Fontes cujo título não antecipa a sua proposta filosófica e lírica. Chama-se Soneto. Em catorze versos o poeta molda o ideário humanista do positivismo de Comte. Imagino, estou no terreno da mera suposição, que Martins Fontes, logo depois de finalizar o poema, levou o manuscrito a sua mulher, sentaram-se no sofá, ou ele se acomodou no tapete, ou assumiu a sua estatura, em pé, ao lado da mulher, já insinuando um gesto declamatório. Ouça, minha querida. Apenas ouça, minha querida.
Se eu fosse Deus seria a vida um sonho
Nossa existência um júbilo perene!
Nenhum pesar que o espírito envenene
Empanaria a luz do céu risonho!
Não haveria mais: o adeus solene,
A vingança, a maldade, o ódio medonho,
E o maior mal, que a todos anteponho:
A sede, a fome da cobiça infrene.
Eu exterminaria a enfermidade,
Todas as dores da senilidade,
E os pecados mortais seriam dez...
A criação inteira alteraria,
Porém, se eu fosse Deus, te deixaria
Exatamente a mesma que tu és...
Diferentemente dos países europeus, o Brasil não forjou a sua nacionalidade na têmpera duma Idade Média, com exemplos de heroísmo e despojamento que o imaginário logo fermentava até que se atingisse o ponto do mito, da lenda, da santidade, impostas por esse modo a grandeza dum povo e a crença na sua predestinação.
O espírito colonial é exatamente o contrário da ideia de nação. Por isso nossa nacionalidade foi medrando em terra tardia, definindo-se aos poucos, lentamente no Império, menos lentamente na República. Sem cruzadas. Sem templários. Sem cavaleiros andantes. Sem bruxas. Sem autos-de-fé. Mas com a pandemia de 1918, a gripe espanhola, com o seu cantochão de desespero e morte, entre as vítimas o presidente eleito do Brasil, Rodrigues Alves, impedindo-o de tomar posse para o seu segundo mandato.
Sempre é tempo de se fazer justiça à Espanha. O vírus da gripe pode ter aparecido pela primeira vez não na Espanha, possivelmente num acampamento militar em Kansas, EUA, conforme anotações sanitárias bem conhecidas, e transmitido por soldados que embarcaram para o teatro da Primeira Guerra Mundial, na Europa. Ou a origem da gripe estaria na França, nos longos e sinistros corredores de trincheiras onde partilhavam o medo ratos e homens. Tudo isso apenas para assinalar que Martins Fontes enfrentou a gripe espanhola aqui no Brasil, como médico, reaprendendo a cada momento, tris- temente, que a absolvição definitiva da dor alheia chama-se morte.
-III-
O nosso álbum de retratos mostra agora um pouco da Belle Époque. Fiel ao figurino europeu, o dandy brasileiro usa luvas, bengala, chapéu de feltro, gravata inglesa e sapatos italianos. Terno de smoking em tecido de lã, com forro de seda. Tem no guarda-roupa sobrecasaca, fraque e cartola. Sempre de bigodes e abotoaduras de madrepérola, às vezes de colarinho duro, de linho inglês, o dandy integra uma elite que frequenta teatro, ópera e vaudeville.
Essa é a moldura oval para o rosto de Pedro Augusto Gomes Cardim (1865-1932), literato, comediógrafo, crítico, político e jornalista, com capacidade de influência decisiva em todos os setores onde atuou. Fundador da cadeira 26, Gomes Cardim nasceu em Porto Alegre e deixou uma obra extensa, na vida e no palco. Ajudou a criar o Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, que em seguida viabilizaria o talento de Mário de Andrade para o magistério e a pesquisa. Foi também um dos fundadores da Escola de Belas Artes de São Paulo.
Seu sucessor nesta Academia, Oliveira Ribeiro Neto, no discurso de posse, empreendeu uma significativa análise literária do texto de Cardim, apontando-lhe a funcionalidade da forma e o lirismo da expressão (Revista da Academia Paulista de Letras, Ano III, Nº 9, São Paulo, 1940, pág. 54).
Porém, Gomes Cardim era um homem de ação. Myriam Ellis, nossa confreira, descreve no artigo Gênese e Renas-cimento da Academia Paulista de Letras (APL 90 Anos, 1999, pág 11) o papel de Cardim nesse ressurgimento, com o seu senso de preservação e combate. A Academia não contava nem mesmo com sede própria. Seu prestígio correu o risco do abalo pela inoperância e pelo descaso. Documentos históricos se perderam. Uma das casas onde os acadêmicos se reuniam ficava na Rua dos Timbiras, nº 2. Ali residia a família dum futuro acadêmico, o sucessor de Gomes Cardim, com atributos idênticos de generosidade na ação.
Pedro Antônio de Oliveira Ribeiro Neto nasceu na cidade de São Paulo em 1908. Formado pelas Arcadas, foi promotor público, e aos vinte e três anos juiz de direito. Além de jornalista, escritor, tradutor e desenhista, foi ceramista, tendo participado da Exposição de Obras-Primas da Cerâmica Moderna, em Cannes, 1955. Orador natural, comunicativo, proferiu conferências literárias no Brasil e no exterior. Participou de viagens diplomáticas como adido do Itamarati. Seu nome está gravado em ouro no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Foi presidente da Academia Paulista de Letras, e também da União Brasileira de Escritores e da Comissão Estadual de Cultura. Detentor do “Prêmio Jabuti”, da Câmara Brasileira do Livro. “Intelectual do Ano”, de 1971. Viveu oitenta e um anos, portanto até 1989.
Menotti Del Picchia, ao receber Oliveira Ribeiro Neto na cerimônia de posse da cadeira 26, em 1935, apontou no discurso “a ebriez do calor e a estridência tropical” na poesia do acadêmico, então muito jovem, porém já com o talento que ele revelaria com magnificência, livro a livro, ao longo de sua trajetória de escritor.
Não só no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco está gravado o nome de Pedro Antônio de Oliveira Ribeiro Neto. Está gravado nos fatos de nossa literatura e na biografia do nosso reconhecimento.
-IV-
O que aconteceu na ficção nacional depois da eclosão do romance de 30? O que foi o romance de 30? Os escritores desse movimento mostraram o Brasil ao Brasil. A literatura passou a incorporar a política e a crítica social, indo além do nacionalismo de Monteiro Lobato e de Lima Barreto. Tanto a arte literária se avizinhava das ciências sociais que não raras vezes o romance de José Lins do Rego, embora injustamente, foi considerado mera província literária da sociologia de Gilberto Freyre. Getúlio Vargas preferia José Lins do Rego a Jorge Amado. Mas o tempo, sempre clássico na escolha do que permanece, preferiu Graciliano Ramos. Memórias do Cárcere. Angústia. Vidas Secas. São Bernardo. Insônia. Caetés. Densos e verdadeiros, integrados ao momento histórico através dum estilo pontiagudo, esses livros mostram o país ao país.
E o que veio depois?
A consagração do Brasil profundo na perspectiva de Guimarães Rosa, quase uma metafísica literária, quase uma Idade Média brasileira. A renovação do conto a partir de Clarice Lispector e suas incisões existenciais na narrativa. Dalton Trevisan. Rubem Fonseca. O desenvolvimento da crônica e do jornalismo literário. Sabino. Braga. Paulo Mendes Campos. Ignácio de Loyola Brandão e suas lições de estilhaçamento no romance Zero, que se fosse filme seria um 8 e ½ de Fellini.
Esse o fundo da fotografia, e no centro o rosto de Ricardo Ramos, com os traços herdados de seu pai, Graciliano.
Ricardo Ramos, que nasceu em 1929, sucedeu a Oliveira Ribeiro Neto na cadeira 26, ocupando-a por pouco tempo, de 1990 a 1992. Ele viveu a infância na companhia dos avós, em Maceió. Só aos quinze anos reencontrou o pai, Graciliano Ramos, que foi prefeito no interior do Estado, e por conta da ditadura Vargas alinhou-se entre os perseguidos poli-ticos, sendo preso. Esse trecho instável e trágico da história do país vem documentado e artisticamente transposto na obra-prima do Mestre Graça, Memórias do Cárcere.
No Rio de Janeiro, já com a família, Ricardo Ramos dedicou-se ao jornalismo e formou-se em direito, sem se interessar pelo exercício de qualquer atividade jurídica. Mudou-se para São Paulo três anos após a morte do pai. Aqui ficou por mais de trinta anos. Empenhou-se na área da publicidade e da comunicação. Foi diretor da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Organizou e foi o primeiro diretor do Museu de Literatura Paulista e presidiu a União Brasileira de Escritores.
Autor de contos, crônicas, romances e duma viagem sentimental pela biografia de Graciliano, Retrato Fragmentado, de reedição recente, Ricardo Ramos teve livros premiados e traduzidos. Seu estilo é próprio, de autoria singular, porém não esconde a fonte, a linguagem essencial e suficiente que veio de seu pai e quase se confunde com o contorno da realidade. Terno de Reis. Circuito Fechado. Os Sobreviventes. Toada pa-ra Surdos. Os Caminhantes de Santa Luzia.
Os escritores, todos somos filhos de Graciliano Ramos. Ricardo é um irmão.
-V-
Olho o último rosto do álbum: o retrato de Mário Chamie. Em 1974 ele recebeu o Prêmio Governador do Estado pelos ensaios que reuniu no livro A Linguagem Virtual, Edições Quíron, São Paulo, 1976. Seu propósito como analista de arte nessa obra que sistematiza dez anos de ensaísmo é estimular a leitura crítica das diversas modalidades de escrita, não só a linguagem literária, com o apontamento específico de cada gênero, mas a linguagem cênica, com o viés do teatro e do cinema.
Como poeta, Chamie, que veio do concretismo, evoluiu à margem desse movimento e criou a Práxis, produzindo uma forte poesia social em torno da palavra viva e por isso cambiante.
Dos vários sentidos para o termo de origem grega práxis (ação, realização, negócio), Chamie privilegiou o sentido de ação, contrapondo-o ao de contemplação. A prática valorizada com os mesmos índices da teoria.
Segundo Marx, como os filósofos sempre se preocuparam em explicar o mundo, tradicionalmente, agora seria o momento de se exigir deles o empenho de transformá-lo. A práxis seria o encontro dialético da prática com a teoria, convergindo ambas para uma ação histórica e concreta na vida e na arte.
O livro Objeto Selvagem, de Mário Chamie, também editado pela Quíron, São Paulo, 1977, ilustra com nitidez a estética do movimento Práxis.
Vou ler a abertura sintética do livro, sete versos estampados logo na capa do volume:
No espaço do campo, passa o homem e sua miragem,
No espaço da cidade, dorme o homem em sua passagem,
No espaço da consciência, gera o vírus a sua voragem,
Por todos esses espaços, de surda força indomável,
Passa o espaço da palavra com a sua selva sem margem,
Na selva dessa paisagem, no centro de sua arena,
Age a força do poema, meu objeto selvagem.
Eu compareci ao lançamento desse livro e Mário me escreveu uma dedicatória muito gentil e fraterna. A primeira vez que vi Mário vi também Affonso Romano de Sant’Anna. E os três, na ocasião, enfrentamos uma noite paulistana de verão invernoso, de fuligem aromática, ou sufocante, o ar ao mesmo tempo úmido e seco, e um vento desafinado, e o anúncio duma tempestade que desabou longe, e carros na rua, com o seu rumor buzinante. Para onde fomos? Qual o destino de poetas modernos e experimentalistas na Pauliceia Desvairada do outro Mário?
Teatro? Orquestra? Palestra? Cinema? Biblioteca? O único de Minas Gerais era Affonso Romano de Sant’Anna, entretanto nem ele era de ferro.
Perdoai. Fomos comer uma pizza. Nenhum código impede o poeta de ser prosador. Nenhum código impede o prosador de ser prosaico. Partimos decididamente para uma pizza na Alameda Santos. Um pizzaiolo, mais moderno e mais experimentalista do que qualquer poeta, acabara de criar para o pasmo do mundo, uma pizza construída com os elementos da feijoada. Isso aconteceu em São Paulo nos últimos anos da década de setenta.
E chegou a pizza, uma arena de alumínio que acolhia ao fundo a grossa massa fumegante, esquisita, tornada escura pelo caldo de feijão preto, surpreendente, alexandrina, separada em dois hemistíquios onde se exibiam dunas de farofa, pirâmides de paio em rodelas, tufos de carne-seca e uma alameda de grãos negros entre canteiros de couve, pontes de costela, colinas de lombo, túnicas de cebola e pérolas de alho.
Acreditem. Mário Chamie e Affonso Romano de Sant’Anna, oradores temperamentais, de palavra espontânea e envolvente, com o hábito da irreverência lúcida e tensa, sucumbiram ao espanto: ficaram mudos. Coube a mim, diante daquela heresia culinária, propor a retomada da tradição. Nas circunstâncias, isso significava apenas o eterno retorno ao orégano e ao Sole Mio.
Mário Chamie, dois anos mais velho do que eu, nasceu em 1933. Morreu no ano passado, 2011. Vindo de Cajobi para a Capital, formou-se em direito pela Universidade de São Paulo, USP, e trabalhou na área da comunicação, chegando a professor na Escola Superior de Propaganda e Marketing, como Ricardo Ramos.
Combativo, produtivo, empreendedor, jamais fugiu aos encargos da política cultural e sua administração imediata. A partir de 1979 esteve à testa da Secretaria Municipal de Cultura, quando criou e organizou o Centro Cultural de São Paulo, a Pinacoteca Municipal de São Paulo e o Museu da Cidade de São Paulo. Deu aulas em universidades estrangeiras, também em Harvard. Sua obra, vasta e valiosa, foi fartamente traduzida. Não parou de escrever, e de conceder entrevistas pelos meios da opinião publicada, ou mídia, mesmo combalido pela moléstia que o levou. Gostava de dizer que Construção, de Chico Buarque, era um modelo de poesia-práxis.
-VI-
No ano da publicação de Objeto Selvagem, de Mário, 1977, editei pela Civilização Brasileira um livro de contos, Homem Esvaziando Os Bolsos. Uma das narrativas tem o título de Conrado Honório. O narrador, que se utiliza da primeira pessoa e não se identifica, pelo menos quanto ao nome, é um promotor público da Zona Leste de São Paulo. Conrado Honório, cuja aparência lembra Dorival Caymmi, também pela voz grave e o apego ao violão, compõe música e letra para as rodas de samba da Penha e da Vila Matilde. No Fórum, Conrado é escrevente. Mas nos fins de semana, cercado pela veneração popular, ele é um cantor que diz, “o samba da vida deve ter casca e fruto, e uma lua de lata, e uma lua de luto...”
O conto descreve a morte de Conrado e a comoção causada por essa tragédia. Eu fiz do enterro uma consagração exagerada, de teatro grego. Aliás, a matéria do conto é a consagração da dor pela morte dum intérprete do povo.
Tempos depois, o meu comodismo de narrador, em torno dessa criação, me aborreceu. Eu percebi que o leitor, e isso me incluía, enxergava a consagração visual de Conrado Honório, porém não tinha acesso aos motivos de emoção tão difusa. Eu me impus, assim, a tarefa de coligir os poemas e as canções de Conrado no livro Cantoria de Conrado Honório (Mercado Aberto, Porto Alegre, 1998).
Heterônimo? A análise da questão ficou a cargo da ensaísta e doutora em letras pela USP Lucilene Colodo do Amaral Ferreira que se dispôs com rigor crítico a uma autêntica dissecação de todos os meus poetas inventados, na tese de concurso cujo título já permitia conceituar o fenômeno da autoria desdobrada, Uma Pluralidade Singular. A minha pluralidade de poetas, ou máscaras, como adverte Lucilene, enquanto por trás, e no singular, eu as manipulo, são personagens de minha prosa, e que por uma exigência da dimensão criativa escrevem e publicam poesia: Aldo Tarrento e suas Modas; Orso Cremonesi e sua Lira; Conrado e sua Cantoria.
A fonte dos heterônimos de Fernando Pessoa agita como correntes marítimas o oceano de sua própria e imensa poesia. O heterônimo pessoano nasce e se resolve na poesia.Talvez eu não escreva através de heterônimos, ou os meus heterônimos se revestem de outra natureza. Se as minhas criaturas na prosa cedem ao impulso de produzir poesia, e de publicá-la em livros autônomos, tais personagens, de criaturas passam a transcriaturas.
Jamais eu pensaria em teorizar sobre isso, não fosse a aproximação com a USP, mais exatamente com o Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, aqui sob o co- mando da professora e doutora Aurora Fornoni Bernardini, de quem sua aluna Lucilene teve a orientação para a tese de 2008.
-VII-
Terei preferência por alguma de minhas transcriaturas? Não. E não importa a pluralidade, ou o desdobramento da manifestação poética, desde que a origem da criação seja singular e autoral. Embora diferentes entre si, os meus poetas inventados têm pontos de convergência, sendo o principal deles a preservação do sentido.
Um de meus poetas, Malavolta Casadei, considera as palavras como filhas, tão queridas, e o pai as ensina como se comportar fora de casa.
Ele escreve isto:
Atração e repulsa.
Isso resume o mundo.
Podem sair, minhas palavras.
Abotoem o casaco. Não esqueçam o cachecol.
Evitem a companhia de palavrões tatuados
e com brincos. Nas esquinas fazem ponto
palavras sem calça e sem alça.
Sigam adiante. Entrem no cibercafé.
Na danceteria. Sejam minimalistas
com estranhos e com a bebida. Camonianas no amor.
Olhem. Vilipendiaram diante do Atlântico
a escultura de Carlos Drummond de Andrade.
Visitem a Whitechapel Art Gallery,
de Londres. Há esculturas em fezes de chacal
de Lúxor. Sob a proteção da Coroa.
Pensem nas últimas palavras
de Marlene Dietrich:
“Sinto que estou morrendo. Espero
que seja verdade.”
Voltem inteiras. Como sempre,
estarei no escritório, hostilizando a arte de escrever.
Eu quero vocês despertas.
Nunca é estrangeiro o olhar sobre a miséria.
Não quero que percam o sentido.
Acima de tudo,
não percam o orgulho do sentido.
Defendam o sentido até onde ele não estiver.
Exijam que ele pulse no poema a que é estranho.
Minhas palavras.
Jamais percam o sentido.
Minhas palavras.
Podem sair.
Palavras finais. Martins Fontes. Gomes Cardim. Oliveira Ribeiro Neto. Ricardo Ramos. Mário Chamie. Não sou o substituto de ninguém. Esses escritores ainda ocupam a cadeira 26 da Academia Paulista de Letras pelos direitos da memória histórica. Não obstante, sou o sucessor, de todos eles, com o propósito de não deixar morrer o que os distinguia: a dignidade intelectual e a fecundidade do sentido.
 voltar
voltar