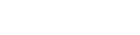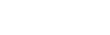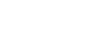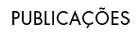|
 |

Acadêmico: Synesio Sampaio Goes Filho
"Queridos amigos. Conhecendo ou não o porto de destino, o melhor é concentrar-se na viagem. Cuidar de amores e amizades, fazer bem e fazer o bem. E, para lembrar Montaigne, não se levar muito a sério e esperar que a morte nos encontre sem temores, plantando nossas couves..."
Senhor Presidente da Academia Paulista de Letras,
Senhores Acadêmicos, Senhoras e Senhores, meus amigos todos.
É grande a alegria e maior ainda a honra por estar aqui. Minha trajetória não levaria normalmente a este destino, mas os imponderáveis da vida acabaram me conduzindo a ele.
Há poucos meses atrás, almoçava com amigos, quando o Flávio Flores da Cunha Bierrenbach, de repente, disse: acho que o Synesio tem uma obra importante e por isso deveria ser membro da APL. Meu amigo é uma fonte de ideias, muitas boas, mas esta eu achei bem inusitada. Ele tem jeitão de alemão, alma de gaúcho, mas é sobretudo paulista: ama São Paulo e suas instituições mais representativas. Foi ele quem recriou a Associação dos Antigos Alunos da São Francisco, admira e respeita a Academia Paulista de Letras. Sabe sua história e quer vê-la engrandecida. Só se enganou achando que minha presença contribuiria para isso.
O Flávio comentou com amigos, coordenou-se com o José Carlos Madia de Souza, Presidente da Associação, e encontrou no Celso Lafer um acadêmico que achou que eu tinha um caminho de vida e uma obra escrita que me poderiam fazer um candidato viável. Outros acadêmicos endossaram a candidatura e à sua generosidade devo a eleição. Não vou citar nomes, porque sei que todos eles se sentem representados com a menção de um só, Paulo Bonfim. O poeta de São Paulo, armado de escopeta e vestido de gibão, empunhou a bandeira de nossa causa e seguiu em frente pelas veredas do sertão eleitoral. A eleição foi valorizada por haver um contendor de peso e os acadêmicos que nele votaram receberam-me na Academia com fidalguia equivalente à confiança de meus eleitores. O que me cabe, agora, é corresponder à boa vontade de todos e dar alguma contribuição ao trabalho da APL pela cultura de nossa terra. Na esperança de que a vontade compense as poucas forças.
***
Vou falar de mim, antes de evocar as ilustre figuras que me precederam na Cadeira nº 19. Um exercício perigoso. Exagera-se virtude, omitem-se erros, não se confessam mesquinharias. Como, bem a propósito, diz Fernando Pessoa: “Nunca conheci quem tivesse levado porrada.//Todos somos campeões em tudo”... Mas vamos lá, é do ritual acadêmico.
A raiz mais conhecida do meu lado Sampaio está nos Açores, na ilha de São Miguel, donde vieram para São Paulo, em 1654, três irmãos, Francisco de Arruda e Sá, Sebastião de Arruda Botelho e André de Sampaio e Arruda, sendo que este se estabeleceu em Itu, onde tenho muitos ancestrais tanto do lado de pai como de mãe, ela Moraes, pelo lado materno e Rodrigues de Arruda, pelo paterno. Deixem-me dizer que, não tenho nenhuma veleidade genealógica e estou seguro que devo ter e fico contente com isso sangue de várias etnias e classes sociais.
Em todo caso, como verão, falarei mais mal que bem de minha família. Um antepassado interessante que tive foi Capitão-mor de Itu durante 46 anos, Vicente da Costa Taques Goes e Aranha. Ficou famoso por provocar uma gargalhada ao Príncipe Regente Dom Pedro quando se apresentou no beija-mão dado em São Paulo, logo antes da viagem a Santos e do 7 de Setembro de 1822. Vestido, calçado, empoado e emperucado como um mestre-de-campo da época de Dom José I, parecia um fantasma do passado. Apesar de ofendido, aproximou-se, fez uma reverência, beijou as mãos do Príncipe e, no sotaque caipira que era normal naquela época (o mesmo da futura Marquesa de Santos, que D. Pedro conheceria nessa viagem), disse: “Saiba Vossa Alteza Real que com esta farda servi por longos anos aos senhores reis, seus augustos pais, avós e bisavós.” Outra reverência, vira-se e sai com a dignidade possível naquele uniforme “arcaico e estrambótico”, na expressão de Afonso d’Estragnole Taunay. O velho Capitão-mor, já pelos 80 anos, idade rara na época, voltou imediatamente para sua vila, distante sete léguas da Capital, pela estrada que margeia o Tietê, em lombo de burro. “Emburrado” é a palavra que calha bem; mas logo o sentimento se reverteu ao receber sucessivamente duas altas comendas do impulsivo e arrependido Bragança, a do Cruzeiro do Sul e a de Cristo. Nos anos seguintes, revelou-se um ativo defensor do Imperador e escrevia cartas a ele e a José Bonifácio, prevenindo-os contra as tramas de um grupo de religiosos heterodoxos da Igreja do Patrocínio, especialmente contra “as criminosas ideias de liberdade de um padre muito perigoso” que se chamava Diogo António Feijó. Como se vê, as tendências liberais que penso ter, não começaram muito bem...
Deixemos meu quinto avô entre tantos descendentes, alguns políticos regionais, vários fazendeiros e muitos outros menos aquinhoados, lá no cemitério da velha Utu-guaçu, de Domingos Fernandes, e cheguemos ao menino que se dividia entre São Paulo e Itu, onde os avós maternos tinham casa e fazenda. Era magro, comprido e levado e teve uma doença cardíaca infecciosa que o deixou preso ao leito dos 5 aos 7 anos. Não havia os antibióticos de hoje, mas havia uma mãe dedicada. Os anos da escola primária foram normais; já os da secundária, bem conturbados. Estudei em alguns dos melhores colégios de São Paulo e em alguns dos piores... Em geral, os diretores preferiam me ver nos concorrentes. Era o palhaço da classe. Depois fui perdendo a graça; não tive a felicidade do Jô Soares de continuar divertido pela vida afora.
Só uma história. Expulso do Colégio São Luiz, não por um fato grave, mas por que ficava, como lá se dizia, “retido” quase todo dia por mau comportamento (saia uma hora depois dos outros), meu pai teve dificuldade em achar outro colégio. Depois de algumas tentativas, foi pedir ajuda a um conhecido seu, então Reitor da Universidade Mackenzie. Ficamos horas na sala de espera, ouvindo uma pernóstica secretaria atender com voz esganiçada o telefone: “gabinete do magnifico reitor”, uma expressão que eu escutei pela primeira vez e sempre recordo com antipatia. Afinal, o magnífico nos recebeu, em pé e já com a minha ficha na mão (talvez fosse melhor dizer prontuário). Foi logo dizendo: “lamento, meu caro, mas com estes antecedentes, não dá”. Meu pai saiu acabrunhado. Eu queria muito - permitam-me a confissão - poder dizer hoje: está vendo papai, conseguimos...
Após várias idas e vindas, com muitos voos nos “paulistinhas” do Campo de Marte e uma longa estada em Portugal, acabei na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Sorte minha! Por quê fui para lá? Nem sei. Tinha feito o Científico e gostava de matemática. Talvez porque o escritório de meu pai ficasse ao lado da Faculdade... Ele conhecia, admirava um ou outro professor, tinha prazer em ver aqueles alegres grupos de estudantes sempre andando nas proximidades. Meu pai, um dos nove filhos do administrador de uma das fazendas do irmão - este, sim, fazendeiro importante, duas vezes prefeito de Itu, pai de deputado - não cursara faculdade e trabalhava desde mocinho. Gostava de lembrar que nunca fora empregado. Casou-se já perto dos 40 anos e eu sou o segundo filho. Na minha infância e juventude, era construtor e fazendeiro; às vezes comprador de café para casas exportadoras de Santos. Bom gênio, contador de “causos”, em geral interioranos, alguns meio crus, que preocupavam minha irmã mais velha, estudante do chique “Des Oiseaux”. Lutou em 32 e frequentava o centro de São Paulo, onde estavam as repartições públicas, os bancos, os cafés, os clubes. De meu pai, como de minha mãe, só tive apoio e amor.
Mas voltemos ao vestibular. Estudei Latim e redação apressadamente em poucas semanas com um velho senhor inglês que já era meu professor. Tinha um “atelier” ao lado do escritório de meu pai, que gostava dele. Foi a primeira pessoa de grande cultura que conheci. Era médico de formação, artista plástico e poeta de vocação. Com uma visão aristocrática da vida, tinha sido amigo de Roberto Simonsen e o era do Deputado Pereira Lima, da UDN, e do Prior do Mosteiro de São Bento. São as únicas coisas que sei desta forte e benéfica personalidade, que teve uma influência grande na existência de um jovem inquieto. Por isso quero lembrar seu nome: Charles Winter.
***
Na Faculdade, gostei de várias coisas, a começar das conversas politicas no famoso Pátio de Pedra, em que um Diretor imaginoso, membro desta Academia, Spencer Vampré, queria plantar rosas. Fiquei amigo de vários colegas, alguns excelentes alunos; para falar só os que são nossos confrades, o Celso e o Tercio Sampaio Ferraz, da minha turma, e o Miguel Reale Jr., um pouco mais moço. O Celso, no terceiro ano, publica um livro, O judeu em Gil Vicente e com prefácio do Professor António Cândido (nossas homenagens ao grande pensador do Brasil, que acabamos de perder). Foi o primeiro amigo que vi envolvido nessas lides editoriais.
No primeiro ano, tive um choque cultural nas aulas do Professor Goffredo Da Silva Telles, talvez maior que o dos colegas, por que não me lembro de bons professores no secundário, seguramente por que era mau aluno. Os catedráticos da São Francisco eram nomes conhecidos, Vicente Rao, Alexandre Correa, Cesarino Jr. e, para citar alguns desta Academia, Ernesto Leme, Ataliba Nogueira, Miguel Reale. Abrindo um parênteses, comento que muitos professores eram secretários de estado, ministros, deputados, e me pergunto se não seria o afastamento das elites intelectuais da vida pública uma das razões para o baixo nível dela. Para o Goffredo, como o chamavam informalmente seus milhares de alunos, dar aulas era o que mais importava na vida; amava os estudantes, queria formar cidadãos prestantes e aspirava a fazer de cada preleção uma obra de arte. Conseguia. A classe, em geral displicente, às vezes turbulenta, ficava atenta, silenciosa, mesmerizada.
Eu não frequentava autores jurídicos, praticava estudantadas, mas lia um pouco Bertrand Russel, Sartre, Camus, Gilberto Freire, Celso Furtado e dois autores dos quais o Celso Lafer, em louvável esforço civilizatório, distribuía livros aos amigos, António Cândido e Hélio Jaguaribe. Entrei lá em baixo na lista de aprovados, mas saí bem. Recordo dois fatos que me deixaram contente: tive dez na prova de Filosofia do Direito e fui eleito orador da turma de 1964.
***
Dois colegas de classe falavam do Itamaraty, o Osmar Chohfi e o Chico Junqueira. Ambos entraram, fizeram grandes carreiras, destacaram-se como Embaixadores; o Chico nos deixou muito cedo, o Osmar, que está aqui conosco, entrou e saiu em primeiro lugar, pois chegou a Secretário-Geral, o mais alto posto da diplomacia brasileira. Na onda deles, eu também entrei, já tinha um pouco aprendido línguas, estudado várias matérias. Passei 43 anos no Ministério, uns 18 no Brasil, 25 no exterior, e tive também uma boa carreira. Não tenho pejo em dizer que o Itamaraty abriga boa parte da elite do funcionalismo federal; que os diplomatas brasileiros têm muito orgulho de servir o Brasil.
Vivi em vários países e sempre me interessei pelas coisas locais. No Peru, por exemplo, estudei as civilizações pré-colombianas, sobretudo representadas nas cerâmicas, os “huacos” como são localmente chamadas. Lá tive uma experiência interessante. Designado pelo governo brasileiro, fiz uma longa viagem pela Amazônia, acompanhando um ex-presidente daquele país, Fernando Belaunde Terry, que depois se tornaria outra vez presidente. A jornada despertou a minha curiosidade sobre como Portugal e o Brasil conseguiram, sem guerras, traçar nossas raias de forma tão favorável. Na América do Sul, anos depois, fui Embaixador na Colômbia, país lindíssimo, que, dizem (creio que estão certos), ter a sociedade mais culta da região.
Servi em cinco nações da Europa ocidental e, claro, me interessei pela riquíssima história do continente, que, desde o Renascimento e até poucas décadas atrás, liderou o mundo. Como uma ilha perdida no norte da Europa, a Inglaterra, conseguiu criar o maior império da história da humanidade? País de grandes biografias, um de meus gêneros favoritos, talvez porque haja tantas personalidades biografáveis. Na França, o primeiro posto, devorei sua história de reis e de revoluções e tive uma inesquecível aventura literária, com o tempo ganho com Proust. Fui por quatro anos Embaixador em Portugal, uma experiência única; morei no país mais bonito do mundo que é a Itália e num dos mais civilizados, a Bélgica. Estou só me recordando de aspectos de minha vida cultural... também trabalhava!
Alguns anos passei no Itamaraty do Rio, um dos elegantes palacetes do Segundo Reinado, e, mais tempo ainda, no mais bonito palácio de Oscar Niemeyer, o Itamaraty de Brasília. O Itamaraty é, como a nossa Faculdade de Direito, como esta Academia, um centro de personalidades da vida intelectual ou pública. As três entidades são, na linguagem do historiador Pierre Nora, “lieux de mémoire”, aqueles poucos lugares onde a história pulsa. Não exagero dizendo que fui amigo, mas conheci, no casarão da rua Larga, para ficar em três exemplos, Vinicius de Morais, Guimarães Rosa e João Cabral. Interessei-me pelas poderosas mentes políticas que por lá passaram, e até escrevi, mais tarde, sobre Rio Branco, Joaquim Nabuco, Oliveira Lima e - para mencionar um contemporâneo, meu chefe e meu amigo Mario Gibson Barboza.
Em Brasília, tive várias funções no Itamaraty, na Fazenda e na Presidência da República, mas queria destacar aqui as de chefe de Gabinete dos ministros Celso Lafer e Fernando Henrique Cardoso. Ter convivido com este grande Presidente, saber que me considera amigo é uma das boas coisas da minha vida. O Celso é próximo há quase 60 anos. Admiro-o como homem público: conheço de perto sua competência e sua vontade de servir. Admiro-o como intelectual: para ficar só no meu setor profissional, é considerado o mais importante autor brasileiro de Política Externa. Mas queria falar do amigo. Machado de Assis era um pessimista, não tinha ilusões sobre a humanidade; pensava, entretanto, - é Lúcia Miguel Pereira quem o diz - que “o contato com algumas criaturas generosas paga a pena de estar no mundo.” Não creio que seja uma pena estar por aqui; mas tenho certeza de que o Celso é uma dessas criaturas generosas que valorizam o mundo.
***
Funcionário diplomático normal, correto, não me achava com vocação para tarefas intelectuais até que uma exigência do Itamaraty, o Curso de Altos Estudos, etapa necessária para se passar de Conselheiro a Ministro, me levou a escrever um livro sobre as fronteiras amazônicas do Brasil. O trabalho, de umas 200 paginas, foi aprovado e ganhou um premio de publicação. Com o correr dos anos fui modificando-o, tirei a parte conjuntural, reforcei a base histórica e ampliei seu escopo para todo o país. Um colega que conhecia o novo texto, já de umas 400 p., apresentou-o à Editora Martins Fontes que resolveu inclui-lo em uma série que se chamava “Estudos Brasileiros”, em geral de autores consagrados, como Capistrano de Abreu e Euclides da Cunha.
O saudoso historiador Francisco Iglésias viu, em Navegantes, bandeirantes, diplomatas, uma maneira original de interpretar a História do Brasil. Algum sucesso de crítica e de venda provocaram várias reimpressões e edições. Uma destas foi da Biblioteca do Exército. Permitam-me um pontinho de emoção. Em 1997, Embaixador na Colômbia, acompanhei a bela e brilhante Ministra das Relações Exteriores, Maria Emma Mejia, a uma visita a setores da fronteira bilateral. Entre eles, Ipiranga, um local perdido nas margens do Japurá, onde há uma minúscula unidade do Exercito Brasileiro. Os soldados eram indígenas e cantaram o Hino Nacional com forte sotaque da sua língua nativa. No gabinete do comandante, um jovem tenente, havia uma pequena estante com poucos livros. Pareciam manuseados. Um deles era o meu.
Este livro de certa forma mudou minha vida. Como tinha sido por anos Chefe do Cerimonial, durante a Presidência João Figueiredo, área ligada a coquetéis, jantares oficiais, viagens ao exterior, talvez tivesse uma imagem um pouco mundana. Na verdade, apreciei bastante a tarefa que me levou a conhecer muitas partes e gentes no Brasil. Levou-me, sobretudo, a conhecer as vaidades humanas, pois eu era de certa forma o centro de atribuição de hierarquias e de distribuição de condecorações. “Vanitas vanitatum...” E o pior é que não há saída, pois, como ensina Mário Quintana, “nossa modéstia é a vaidade escondida atrás da porta”...
Comecei a ser convidado para participar de seminários, realizar palestras e escrever artigos sobre temas relacionados. Fiquei membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e passei a escrever para sua centenária revista. Fui indicado para ser professor do Instituto Rio Branco. Um dia, “out of the blue”, recebo uma carta de um escritor que conhecera numa Feira do Livro de Bogotá, José Paulo Paes, poeta, tradutor e respeitado crítico. Versava sobre as qualidades literárias do ensaio. Fico um pouco envergonhado em repetir o elogio, mas o fato é que deu confiança para me arriscar em outras áreas.
***
Sei que esta Academia pretende atrair pessoas de vários quadrantes, com diferentes historias pessoais, desde que sejam consideradas capazes de dar uma contribuição à vida social e cultural de São Paulo. Tenho a impressão, entretanto, de que o livro ao qual me referi foi importante para minha entrada aqui e por isso queria falar agora sobre os bandeirantes, a parte paulista dele, e objeto de estudos que tenho publicado em Portugal e no Brasil. Antes dos ciclos do café e da indústria, o bandeirismo foi o assunto mais característico da nossa história. Euclides da Cunha dizia que era o único aspecto original da História do Brasil. Citemos só os acadêmicos que escreveram sobre ele: Washington Luiz, Júlio de Mesquita Filho, Alfredo Ellis Jr e, o que mais pesquisou e publicou, Afonso Taunay; entre os atuais, destaco o seminal estudo de Myriam Ellis, incluído na Historia da Civilização Brasileira, coordenada por Sérgio Buarque de Holanda, e a ampla e definitiva obra de Jorge Caldeira, O banqueiro do sertão. Na poesia, Paulo Bomfim burilou o Armorial, obra que é para nós paulistas o que a Mensagem, de Fernando Pessoa, é para os portugueses: linda, mítica, comovente.
Bandeiras é assunto tratado quase que exclusivamente por autores de São Paulo. Talvez porque um ou outro exagerasse nas virtudes heróis homéricos, raça de gigantes, semideuses - houve alguma reação de historiadores de outras regiões (não conheço nenhuma obra de grande valor) que adaptaram a “leyenda negra” da colonização hispânica ao bandeirismo. Essa visão passou de vários livros de uma história, que se pretendia revisionista ou marxista, para os compêndios didáticos que começaram a ser publicados na segunda metade dos novecentos. O que era muito ruim porque era faccioso. De todo fenômeno histórico pode-se tirar uma versão positiva e outra negativa.
A versão negativa encontra seus fundamentos nas obras de jesuítas contemporâneos do movimento, vítimas e inimigos daqueles “maloqueros de San Pablo”, como os chamava o Padre Montoya, superior das missões do Guairá e autor da célebre La Conquista espiritual. A leitura de alguns historiadores hispano-americanos, que se sentem prejudicados com a diminuição das fronteiras nacionais de seus países, também pode ter influenciado.
Nascido à beira do Tietê, era natural que me interessasse pelas bandeiras e pelas monções. Meu assunto específico era o papel do bandeirismo no estabelecimento dos limites do Brasil. A terra que o bandeirante pisou, brasileira ficou; como ele andou muito, o território nacional é portentoso. A base de meus escritos está nos historiadores mencionados, que por sua vez se informaram em Pedro Taques, Frei Gaspar da Madre de Deus, nos documentos da Coleção de Ângelis e, principalmente, nas atas da municipalidade de São Paulo e nos testamentos de bandeirantes, que começaram a ser publicados na década de 1920. Sofri a influência benéfica do historiador português Jaime Cortezão, defendendo-me do seu, digamos, “patriotismo colonial”. Homem de vasta cultura europeia, dá uma dimensão nova ao movimento, estabelecendo suas ligações com as diretrizes políticas da Metrópole.
É certo que Portugal soube aproveitar-se diplomaticamente de um movimento de inspiração local. A verdade, entretanto, é que os bandeirantes devassavam campos e matas a procura de meios para viver: “buscar remédio para sua pobreza”, como se lê em vários testamentos estudados por José de Alcântara Machado, nosso 3º presidente, em um dos livros mais bem elaborados sobre o tema, Vida e morte do bandeirante. Entravam a pé pelas trilhas, às vezes indígenas, às vezes novas, e se internavam anos a fio nos diversos sertões que havia no Brasil colonial, Cataguás, Vacarias, Parecis, Patos, Paraupava, Jacobina... Muitas vezes pelas trilhas não voltavam, mortos que tinham sido , como se lê também nesses testamentos, “por uma frechada que lhe penetrou no vazio”.
Focalizando nos feitos, surge um bandeirante dotado daquela vitalidade brutal que lhe permitia, na esteira de seus antepassados paternos, navegar confiante pelas tormentosas rotas do sertão sem fim. Não faria isso, entretanto, sem o afluxo de sangue indígena, por via materna, refletido nos hábitos alimentares e vivenciais e na língua predominante das bandeiras, o tupi.
Espero ter contribuído, em palestras, artigos e capítulos de obras coletivas, para uma configuração equilibrada das bandeiras e das monções, escolhendo bem os fatos é dando a eles uma interpretação aceitável. E tenho o prazer de verificar que nos melhores livros sobre a Colônia a visão equânime é hoje dominante e, mais ainda, estende-se a manuais universitários e livros didáticos, de divulgação muito mais ampla. Para ficar num só exemplo destes, a História do Brasil, de João Daniel Lima de Almeida, um dos favoritos entre os candidatos ao Rio Branco e em “cursinhos” preparatórios de todo o país, e que adota integralmente é o autor quem diz minha contextualização do bandeirismo.
***
As penetrações e ocupações bandeirantes em terras que eram espanholas pelo Tratado de Tordesilhas poderiam não dar em nada se não houvesse do lado de Portugal, no momento oportuno, como Secretário de Dom João V, quase um Primeiro-Ministro, um estadista do quilate de Alexandre de Gusmão. Natural de Santos, tinha também as virtudes literárias que o fizeram um de nossos patronos. Membro do Conselho das Índias era sem dúvida o maior conhecedor dos problemas de sua terra natal. Com grande habilidade diplomática, conseguiu convencer a corte madrilena, muito focada na aquisição da Colônia do Santíssimo Sacramento, a qual lhe daria o controle das duas margens do rio da Prata, que só um acordo geral, continental - o maior já feito na História Universal resolveria os problemas dos estabelecimentos brasileiros no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso e na Amazônia.
Este acordo deveria fundar-se em um princípio do Direito Privado romano que Gusmão introduzia no Direito Público sul-americano, o do “uti possidetis”, na prática a garantia de que as posses seriam preservadas. O princípio, que continuou, aliás, a ser usado no Brasil independente, aliado a outro, o das “fronteiras naturais”, estruturou o Tratado de Madri, que, em 1750, legalizou os dois terços do território brasileiro que estavam a oeste do meridiano de Tordesilhas. O mapa que serviu de base às negociações foi elaborado por Alexandre - depois foi chamado de Mapa das Cortes - e é a primeira carta geográfica em que o Brasil se apresenta nesta forma maciça, quase triangular, que hoje nos é familiar.
“A Colônia deu ao país sua geografia; o Império construiu a Pátria”, diz Paulo Bomfim, numa síntese que só os poetas fazem. No Império, foi-se constituindo uma classe de políticos que, em torno da monarquia, integrou o país e estabeleceu seus limites. Gusmão já havia legalizado as conquistas bandeirantes ao conceber e negociar o Tratado de Madri. Existia, pois, a grande mancha colonial; era mais que um desenho de bordas borradas, mas menos que um território precisamente delimitado. Agora, existiam dez as nações vizinhas, todas sensíveis, inseguras e reivindicativas sobre a extensão dos seus territórios.
Para o Brasil, aconteceu o melhor. Sob a supervisão direta de Dom Pedro II, um grupo excepcional de estadistas como nunca houve antes e nem depois na nossa história - executou com sucesso a ingente tarefa de negociar nossa longa linha de limites. O Marquês do Paraná, o Visconde do Uruguai, o Visconde do Rio Branco são os primeiros nomes a serem lembrados. Menciono mais dois, da mesma geração: Francisco Adolfo de Varnhagen, Visconde de Porto Seguro, outro patrono nosso, porque igualmente negociou fronteiras e esta sua tarefa máxima escreveu, de um ponto de vista centrado no estado imperial, a primeira grande História do Brasil; e Duarte da Ponte Ribeiro, um diplomata profissional que na Secretaria de Estado, no Rio, ou nas embaixadas, em países vizinhos, participou de praticamente todas as negociações de limites do Segundo Reinado.
Quando o Presidente Rodrigues Alves, que já gozava da justa fama de escolher bem seus auxiliares, conseguiu convencer um Barão do Império - há vinte e sete anos fora, achando-se mais um homem de gabinete e se dizendo sem fortuna para ser ministro - a ocupar a pasta das relações exteriores, estava no auge o conflito do Acre, talvez o mais grave que tivemos. O Barão do Rio Branco, já considerado um herói nacional por suas vitórias arbitrais nas disputas com a Argentina e a França, acabou vindo, em um ano resolveu a questão acreana, assinou depois tratados de limites com todos os vizinhos, mudou a proa da política externa brasileira da Europa para os Estados Unidos, continuou chanceler de quatro presidentes, viveu e morreu, na mesma sala onde trabalhava no Itamaraty. Deixou um país livre dos problemas de fronteiras que até hoje prejudicam nossos vizinhos. Gilberto Freire vê em Rio Branco o ponto de inflexão da República, que até então colhia muitos infortúnios.
O que quero destacar aqui, entretanto, neste momento tão difícil da vida nacional 8% de queda do PIB em dois anos, 14 milhões de desempregados é que existem aspectos positivos na História do Brasil e a formação das fronteiras é um deles. Há indícios de que estamos no caminho de saída e o que há de bom deve ser lembrado.
***
Vou dizer breves palavras sobre meus antecessores na cadeira nº 19. Ela tem certas peculiaridades. Primeiro, é a que menos ocupantes teve: contando o patrono e o fundador, só quatro, e há várias com dez, onze. Por que isso? Porque cada ocupante costuma ficar mais de trinta anos na Academia. Eu, aos 77, é difícil; mas é bom saber que é um lugar bem saudável... Segundo, sentaram-se nela três caipiras, dois de São Roque, um de Campinas, depois um teuto-brasileiro e, agora, outro caipira, eu, de Itu. (O José de Souza Martins terminou seu discurso de posse reivindicando o título de caipira. Eu queria dizer a ele: estamos tomando o poder...)
O patrono da cadeira nº 19 é António Joaquim da Rosa, Barão de Piratininga (1820-1886). Nasceu e viveu em São Roque, a 60 Km de São Paulo. Político regional, começou a carreira como vereador aos 24 anos, foi várias vezes deputado provincial, uma geral, e chegou brevemente a presidir a província em 1869. Bem jovem, herdou dos pais a “Loja Grande”, o maior estabelecimento comercial de sua pequena cidade. Talvez por isso não tenha cursado a São Francisco, o que não o impediu de ser um homem culto e de sofrer as mesmas influências literárias de seus contemporâneos universitários, a primeira geração romântica.
Escreveu pouco e quase só dos 27 aos 30 anos. Dele se conhecem doze poemas, duas novelas e um romance. No prefácio da novela A assassina diz que escrevia para se distrair da “vida comercial, tão árida e tão prosaica”. Este título já caracteriza bem sua prosa, traições, venenos, punhais; masmorras, tocaias, cadáveres. Descreve bem os tipos do interior de São Paulo e, apaixonado leitor de Pedro Taques, tem uma grande admiração pelos paulistas de outrora. Não sei se por isso, em mais de uma vez, como em A cruz de cedro, o vilão é um jesuíta. Sua ficção é misturada com personagens históricos, como o Padre Guilherme Pompeu de Almeida, o potentado da região de Santana de Parnaíba, cidade que, nos seiscentos, rivalizava-se com São Paulo.
Não há literatura de ficção na nossa província antes de António da Rosa. No Brasil, só os primeiros romances de Joaquim Manuel de Macedo A moreninha é o mais famoso precedem sua produção, que se deu entre 1848 e 1851.
Li parte de sua obra, visitei seu sítio, vi seu busto na Praça da Matriz e no cemitério localizei seu túmulo; na lápide uma só palavra: “Ninguém”. No passado, estava nas histórias da literatura, hoje nem nas paulistas. Injustiça? Pelo menos aqui estamos nós - e outros se seguirão - assegurando a ele esta forma precária de imortalidade acadêmica.
O fundador da cadeira é Claudio Justiniano de Sousa (1876-1954). Nasceu também em São Roque, mas ao contrário do patrono, escreveu muito, mais de oitenta volumes, sobretudo peças e romances, e, na vila natal pouco morou. Depois de cursar Medicina no Rio, viveu entre São Paulo e esta cidade, então a Paris brasileira; entrou na Academia Brasileira de Letras com 47 anos e foi duas vezes seu presidente, em 1938 e 1946. Trouxe para o Brasil o P.E.N. Clube e foi seu presidente por mais de 20 anos.
A tese de mestrado de Cláudio intitula-se Nevropatas e degenerados e o assunto tratado influencia sua produção literária. Fiquemos apenas com seu romance mais famoso, As mulheres fatais, que teve 15 edições e foi traduzido em francês, espanhol e italiano. É uma obra que antigamente se chamava “forte”, não aconselhada às moças, como, aliás, o próprio autor adverte no prefácio. Trata da irresistível atração sexual de uma mulher que destrói os homens do seu entorno. O título da versão italiana, Carne di peccato, dá melhor ideia de seu conteúdo. Por alguma razão, o livro não teve mais edições depois da morte do autor. Josué Montello, que o sucedeu na ABL, em 1956, julga-o de valor não inferior ao de A carne, de Júlio Ribeiro, que tem várias edições recentes. Em suas palavras - e na verdade a afirmação seguinte pode ser estendida a toda obra do autor -, “Claudio de Sousa vai acumulando a densa poeira do tempo, que se chama esquecimento”.
Ele se dedicou mais do que ao romance, ao teatro, área em que era um erudito, como o prova, seu O teatro luso-brasileiro do séc. XVI ao séc. XIX. A peça mais famosa, das dezenas que escreveu, Flores da sombra, de 1916, foi apresentada nos principais palcos do país, e o autor comparado nas críticas da época a Martins Pena, Macedo, Alencar. Chegou a ser encenada em Paris, e por Louis Jouvet, o que era o máximo para nossas elites de antes da Semana de Arte Moderna. Não é mais representada. Seria porque seu tema, a bondade da vida nas velhas fazendas em comparação com a futilidade da corte, já não encontra repercussão no presente? Suas outras peças, algumas de sucesso, como o Turbilhão, de 17, e Bonecos articulados, de 22, também não sobem mais ao palco.
Foi personalidade pública, homem de muitos amigos no Brasil e no exterior. Só um caso. Era, desde 1936, dos brasileiros mais próximos de Stefan Zweig, o mais lido escritor da época, e o cobriu de gentilezas é o próprio quem diz nos meses que precederam ao seu suicídio em Petrópolis, em 1942. Depois de décadas olvidado, o escritor vienense renasce no mundo inteiro. Agora mesmo, nos cinemas de São Paulo, está em cartaz um filme franco-alemão sobre os últimos anos de Zweig e o brasileiro que mais aparece é Claudio de Sousa. Alguma parte de sua obra também renascerá?
O terceiro ocupante da cadeira 19 é outro médico-literato, que foi o 8º Presidente da APL, de 1975 a 1978, José Pedro Cordeiro (1914-1986). Nascido em Campinas, de família tradicional, começou sua vida como cirurgião da equipe do famoso Professor Benedito Montenegro. Logo trocou o bisturi pela História. Publicou algumas obras de medicina e mais de sessenta estudos históricos, em geral textos curtos, a maioria tratando das origens da Capitania de São Vicente, como O diário de Pero Lopes de Sousa, Braz Cubas, Documentos quinhentistas espanhóis, O engenho de São Jorge dos Erasmos.
Era um senhor grande, bom, simpático e, segundo um acadêmico aqui presente, quando deixou este mundo, foi direto, com sua alegre gravata borboleta, apresentar-se a São Pedro. Escreveu também mais de uma centena de pequenas e lúcidas biografias de personalidades culturais de sua época, cinco, seis páginas cada, especialmente para discursos no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, onde, antes de ser presidente, durantes anos foi o Orador Oficial. Muitas delas estão reunidas em Saudades, publicado em 1966. É de justiça, pois, rememorar aqui a vida e a obra de quem fez tanto para os intelectuais de sua época.
E, agora, algumas palavras sobre meu predecessor imediato na cadeira, nosso 15º Presidente, conhecido e admirado pelos acadêmicos presentes, amigo de muitos. Erwin Theodor Rosenthal (1926-2016) veio da Alemanha criança e se adaptou perfeitamente à Paulicéia. Desde jovem começou a escrever em jornais e dar aulas de inglês e de alemão, em colégios secundários de prestígio, como o Dante, o Pasteur, o Porto Seguro e o Ginásio do Estado.
Repórter de “A Gazeta”, redator e dirigente de “Visão”, conheceu muitos jornalistas e intelectuais da época. Sua carreira de professor universitário começou em Assis, e prosseguiu, por décadas, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, onde conquistou a cátedra de língua alemã em 1964, tendo sido seu Diretor de 1977 a 1981. Grande trabalhador, nunca deixou de fazer pesquisas literárias, traduções e artigos para órgãos especializados, como o “Suplemento Cultural” do Estadão.
Foi bolsista ou professor convidado em várias universidades no exterior, em particular nos Estados Unidos e na Alemanha. Numa de suas estadas culturais germânicas, descobriu entre os papéis do grande naturalista Carl Friederich von Martius integrante da missão científica que acompanhou a vinda da Áustria da futura Imperatriz Leolpodina um romance escrito por ele em 1823, nunca publicado, nem em alemão nem em português. Erwin traduziu e editou, em 1992, Frei Apolônio um romance do Brasil. Se fosse escrito em português, língua em que Martius era fluente, seria o primeiro romance brasileiro. Em suas aulas, gostava de lembrar outra prioridade alemã: Hans Staden, que, em 1555, escreveu Duas Viagens ao Brasil.
Entre os livros do antigo presidente de nossa Academia (2003-2004), há dois clássicos. O primeiro é Introdução à literatura alemã, de 1968 (revisado e reescrito em 1980), até hoje um guia confiável para os estudiosos da língua de Goethe, de Lutero e de Nietsche, para Erwin, os grandes artistas da escrita germânica. O outro é Tradução, ofício e arte, de 1976, de leitura indispensável para interessados e profissionais.
Seu estilo era simples, conciso e elegante, como se vê também em outras obras (uma dezena de volumes), para dar os exemplos mais conhecidos, A língua alemã, Viagem pela América do Norte, Estudos de sintaxe inglesa, Temas alemães e O universo fragmentário (este foi escrito em alemão, mas Erwin participou da tradução). Ao morrer no ano passado, Erwin Theodor Rosenthal era justamente considerado um notável professor e um dos maiores germanistas que o Brasil já teve.
***
Senhores. Como mudou a cidade! Cinquenta anos depois de ter deixado São Paulo, nunca em espírito, mas como lugar em que se vive, volto à terra. Que é bem melhor e bem pior do que era. Excedeu-se no bem e no mal. Sinto profundamente estes versos do Armorial: “Desertos e povoados que hoje estranho,//Ó selva bruta, o pântanos de asfalto// Encobrindo vestígios do meu passo...” Regresso a uma outra capital. Mas a Academia me fará reencontrar o lugar que menos mudou, o centro de São Paulo. Aqui provo as “madeleines” do meu tempo perdido: o convento de São Francisco, as árvores do Largo do Arouche, Ibrahim Nobre recebendo Paulo Bomfim nesta Academia; não tão longe, a casa de René Thiollier, na Avenida Paulista, agora um jardim público, ao lado do qual estou vivendo...
Por que voltar? Porque aqui estão minhas raízes, porque aqui estão meus amigos. Nem de longe pensava na Academia, mas é certo que ela valoriza muito a volta. Irreverente como sou, acho até que já falei mal dela... Lembro, a propósito, uma frase brincalhona de Gustave Flaubert: “Académie Francaise; la dénigrer, mais tâcher d’en faire partie si l’on peut.” Não há clube melhor na cidade! Onde haverá 39 sócios com esta bagagem de cultura, com esta gentileza de modos?
Muitos caminhos de vida desembocam aqui. E é bom que assim seja, para que a APL represente a sociedade. A tradição pode perfeitamente conviver com a contestação. As opiniões e as crenças devem ser respeitadas. Nada precisa ser aceito, entretanto, sem passar pelo crivo do julgamento. O que nos une é o amor pelas letras, o desejo de servir nossa terra. E há um bônus: todas as atividades da Academia são feitas no mesmo ambiente de simpatia e bom humor que torna nossos encontros semanais tão agradáveis.
E o mundo, então, como mudou neste meio século! Há períodos em que as transformações são violentas e criam uma nova sociedade. Foi o que aconteceu na época de Dickens, com o advento das fábricas, nos primórdios da Inglaterra vitoriana. Diz ele: “It was the best of times, it was the worst of times… it was the spring of hope, it was the winter of despair…” Mas nenhuma geração como a nossa viu uma mudança tão radical em tão pouco tempo. Temos agora os instrumentos para fazer deste um mundo melhor e as práticas ecológicas e as armas que podem destruí-lo.
Os progressos da ciência são notáveis, mas o mistério persiste. Duas ilustrações. Astronomia: o satélite-telescópio Hubble comprovou os estudos teóricos que previam cerca de 200 bilhões de estrelas na Via Láctea e um número equivalente de galáxias no Universo; tudo girando no meio de uma incrível explosão, que começou há 14 bilhões de anos. Toda essa imensidão inimaginável para quê, pergunta-se o homem, que, quanto mais conhece, mais se apercebe de sua ignorância. Mas que sabe que é um ser muito especial será o único? pois é capaz de refletir sobre o sentido da vida. Humanidade: chegamos ao paroxismo da Revolução Industrial, com as comunicações imediatas, a manipulação genética, a automação destruidora de empregos, os algoritmos computacionais cada vez mais controlando a vida humana. Como será o homem de amanhã? Um patamar acima do “sapiens”, mas apenas as minorias informatizadas, como diz um influente pensador de hoje?
Queridos amigos. Conhecendo ou não o porto de destino, o melhor é concentrar-se na viagem. Cuidar de amores e amizades, fazer bem e fazer o bem. E, para lembrar Montaigne, não se levar muito a sério e esperar que a morte nos encontre sem temores, plantando nossas couves...
Muito obrigado.
..................................................
 voltar
voltar