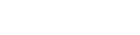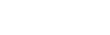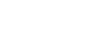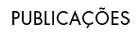|
 |

Acadêmico: Jô Soares
"Na hora de escrever este discurso, descobri, para meu espanto, que nunca havia escrito sobre mim mesmo. Com 58 anos de atividade, era a primeira vez que isso ocorria"
Exmo. Sr. Ministro da Cultura Marcelo Calero, Exmo Sr.Professor José Renato Nalini, Secretário de Educação, Dr. Gabriel Chalita, Presidente da Academia Paulista de Letras, Dr. Ives Gandra Martins cuja saudação de acolhida agradeço comovido. Agradeço também à Sra. Ligia Fagundes Telles que, para mim, neste momento, representa todos os membros desta academia, autoridades presentes, Acadêmicos, senhoras e senhores.
Começo, como é de praxe, referindo-me ao patrono, ao fundador e ao meu antecessor na cadeira número 33. Primeiro, seu patrono, Teófilo Dias de Mesquita, também patrono da cadeira 36 da Academia Brasileira de Letras. Seu livro de poesias intitulado “Fanfarras” é considerado o marco inicial do Parnasianismo. Gostaria de citar um trecho do seu poema “Os Seios”, onde fica bem clara a influência do francês Baudelaire:
“Pois não há ópio ou haschis
Que me abrilhante as ideias
Como as fragrâncias sutis
Que fervem nas tuas veias!”
Só lamento sua morte prematura aos 35 anos e não ter conhecido sua obra antes, pois meu tio-avô, Orris Soares, prefaciou o livro “Eu e Outras Poesias”, de Augusto dos Anjos, outro poeta maldito, este nascido “às sombras dos buritizais da Paraíba.”
Depois, faço questão de citar o fundador desta cadeira: Amadeu Amaral. Para mim, sempre atento como autor à naturalidade da linguagem nos palcos, sobressai a importância da pesquisa meticulosa feita na sua obra “O Dialeto Caipira”. Num país imenso como o nosso, unido pela mesma língua, é fundamental um trabalho que dá relevância a uma maneira regional de se expressar. Seu livro se transforma em instrumento de trabalho para qualquer escritor.
Finalmente, algumas palavras sobre meu antecessor: Francisco Marins. O que mais me atraiu em toda sua obra é o fato dela se apoiar em acontecimentos reais da nossa história, por onde circulam os personagens imaginários. Minha admiração não se restringe apenas ao seu talento como romancista, mas também à vasta coleção que tem como alvo o leitor mais difícil de atingir: o infanto-juvenil. Seus livros fazem com que os leitores, sem perceber, consigam aprender enquanto se divertem. Quanto aos romances da série “O Homem e a Terra”, estes me lembraram a saga baiana dos livros de Jorge Amado.
Na hora de escrever este discurso, descobri, para meu espanto, que nunca havia escrito sobre mim mesmo. Com 58 anos de atividade, era a primeira vez que isso ocorria. Tenho sido cobrado com insistência para escrever um livro de memórias e, quando penso no assunto, sempre acontece o mesmo: bloqueio total. Cada vez que tento, e já tentei mais de uma vez, não sei por onde começar. Só pensei no título: “Memórias e Lapsos”. Na hora, só me vêm os lapsos. Agora, então, com esta homenagem jamais imaginada, fica ainda mais difícil. Sinto-me como um usurpador desta cadeira: “Jô Soares na Academia Paulista de Letras”. Logo eu, que num dos meus livros, matei quarenta acadêmicos de uma vez só. Ainda bem que eram da outra. Pensei que nunca seria aceito, já que o humor e a irreverência são as características principais do meu trabalho. Imaginava que aqui só aconteceriam graves reuniões, onde o riso era banido. Tornei-me assíduo frequentador dos tradicionais encontros das quintas-feiras. Sentia-me como um intruso, pois ainda nem havia tomado posse. Logo no primeiro dia, percebi o quanto estava enganado. Tentando quebrar o gelo, passei grande parte do tempo elogiando o poeta Paulo Bonfim, sentado, impávido, à cabeceira da longa mesa de reuniões. Achei que os elogios que fazia não eram suficientes, porque não havia uma reação correspondente. Caprichei no panegírico: relembrei que minha primeira exposição como artista plástico havia acontecido graças ao convite da sua mulher, Emmy, na sua galeria. Não me lembrava o nome da galeria. Alguém ainda mais debochado do que eu soprou baixinho: “É Atrium, Galeria Atrium...” Falei da minha admiração pela obra do Príncipe dos Poetas que aliás, eu não via há muito, muito tempo! Mesmo assim, Paulo continuava impassível como alguém acostumado a louvores maiores pronunciados por pessoas muito mais importantes. Senti-me como um estranho no ninho. Depois da reunião, chegando em casa, fui tomado por um certo mal-estar. Sentei-me ao computador e abri o site da Academia. Só então descobri o engano: quem estava lá na reunião não era o Paulo Bonfim e sim o Paulo Nathanael. Todos se divertiram muito às minhas custas. Na reunião seguinte, diante das mesmas pessoas, desculpei-me com ele que retrucou: “não tem importância. Acho que nunca fui tão elogiado na minha vida.” Concluindo: já entrei para a Academia cometendo uma gafe de proporções acadêmicas.
O momento é tão importante para mim, uma honraria tão inesperada, que só lamento, aqui, a falta do meu pai, Orlando Heitor Soares e da minha mãe, Mercedes Leal Soares. Pela primeira vez, ao 78 anos de idade, sinto-me órfão. Sei o quanto eles adorariam estar presentes. Quando nasci, minha mãe já tinha 40 anos, e meu pai, 36. Casados há mais de 14 anos, quando já haviam desistido de ter filhos, apareci, sem pedir licença. Foi um choque. Um primeiro filho aos 40 anos. Tanto que ao sentir as primeiras dores ela pensou que se tratava de um fibroma. Quando o médico informou que não era um fibroma, mas um “filhoma”, com aquela idade, ela chorou. Não de alegria, mas pela certeza de que ia morrer. Uma cesariana, em 1938, era uma cirurgia de alto risco. Vale lembrar que eu fui inventado antes da penicilina. Durante os primeiros 17 anos da minha vida, usufruímos do dinheiro ganho pelo meu pai como corretor da bolsa e gasto por nós três. Minha mãe era sempre o centro das atenções onde quer que estivesse. Acho que foi uma feminista sem saber. Tinha a segunda carteira de motorista tirada por uma mulher no Rio de Janeiro, falava seis línguas com perfeição e, infelizmente, fumava como um dragão. O vício traiçoeiro a levou a uma doença rara que só acontece aos fumantes: tromboarterite obliterante. O nome é tão complicado quanto a doença. Na prática, impede que a circulação chegue às extremidades. Na época, era pouco conhecida. O fato é que minha mãe chegou a perder dois dedos: um em cada mão. Seu primeiro comentário depois da cirurgia: “vou exigir um abatimento de 20 por cento da minha manicure”.
Quando fiz 12 anos, na minha primeira viagem internacional junto com meus pais, ao passar por Lausanne, na Suíça, meu pai perguntou se eu gostaria de estudar ali:
-“Depende, se o colégio for igual aos que eu vejo nos filmes, com quarto individual etc., claro que eu quero.”
O colégio era tudo com que eu sonhava e eu fiquei. Chamava-se “Lycée Jacquard”, situado em frente ao Lago Léman. Hoje, o estabelecimento é um “Lycée Cantonal”. O quarto, de frente para o lago, que eu ocupava sozinho, agora é uma sala de aulas. Madame Jacquard, a proprietária, adorava “le petit brèsilien”. Petit!? Eu!?...
Na Suíça, cheguei a completar o “Maturité”, que correspondia aqui no Brasil, ao científico ou clássico. Depois, fiz exames de admissão para Oxford ou Cambridge, onde pretendia cursar História. Como eu precisava de duas matérias, a segunda que escolhi foi o Francês. Imaginem: ir para a Inglaterra estudar francês... claro que passei.
Nessa altura, os negócios do meu pai começaram a entrar em crise e eu tive que voltar para o Rio de Janeiro. Depois de pouco tempo, ainda morando no anexo do Copacabana Palace, o dinheiro acabou mesmo e nos mudamos. Meu pais foram morar de empréstimo num “quarto e sala conjugado” da irmã do meu pai e eu fui parar num quarto alugado na rua Prado Junior. Fiz minha mudança a pé, pela Avenida Copacabana, acompanhando um “burro sem rabo”, que levava duas malas e a minha cama. “Burro sem rabo” era a denominação dada no Rio de Janeiro aos carroceiros que faziam pequenas mudanças.
Pratiquei duas profissões que não tinham muito a ver comigo: fui vendedor de passagens numa agência de turismo, a “Castelo Turismo”, onde cheguei a vender 6 passagens. Para Minas. De trem. Eu era conhecido no ramo como o “Joé da Castelo”.
Depois, exerci um emprego de office-boy numa agência de exportação de café. Tentei ser provador de café. Uma experiência emocionante. Você cospe mais do que bebe.
À noite, eu frequentava os lugares onde os atores costumavam se reunir depois dos espetáculos e gravações, o que acontecia no “Gôndola” e no “Fiorentina”, no Rio, e no velho “Gigetto” da Rua Nestor Pestana em São Paulo. Com a Internet e gravações que obrigam os atores a decorar textos de um dia para o outro, esta convivência que permitia a troca de informações com outros setores da cultura e da política, desapareceu. Foi durante esses encontros que costumavam se prolongar pela madrugada que eu mostrava alguns “números”, por exemplo, a dança que eu fazia calçando sapatinhos nos dedos ou sátiras aos filmes americanos, como um de ficção científica, “O Abacaxi que Invadiu Nova York”. Eu também imitava algumas pessoas. Numa festa na casa da Tônia Carrero, na época casada com o diretor Adolfo Celi, ela me pediu que imitasse o andar do Celi. Graças ao bom Deus, riram muito, inclusive o imitado.
A verdade é que estou aqui hoje graças aos estímulos que tive por onde passei. Em São Paulo, tive a benção de estrear pelas mãos da genial Cacilda Becker, ao lado de um dos maiores atores brasileiros, Walmor Chagas. Sempre fui ajudado. Aos 21 anos, me casei com Theresa Austregésilo, atriz consagrada no Rio de Janeiro. Durante dois anos fui sustentado por ela. Eu costumava dizer que tinha dado “o golpe do baú”. Ela retrucava: “Tadinho... ele ainda não sabe, mas quem deu o golpe do baú fui eu...” Theresa, com quem fui casado por vinte anos, interrompeu suas atividades no Rio e me arrastou para São Paulo: “sua carreira vai decolar em São Paulo.” Viemos, pela primeira vez, para ficar doze dias e ficamos doze anos. Devo à Theresa muito do que aprendi sobre teatro e principalmente sobre a vida. Nesse momento de reflexão, percebo o quanto devo às mulheres: Tônia, Cacilda e, como diretor, à Ruth Escobar. Ousada em tudo que fazia, ela intuiu e decidiu que eu era diretor de teatro. Pronto. Graças às suas produções, dirigi Pedro Bloch, Dürrenmatt, Nelson Rodrigues, Eugène Labiche e Shakespeare. Finalmente, Flávia Maria Junqueira Pedras Soares, pra mim, sempre Flavinha. Fomos casados por 15 anos. O casamento acabou mas não o nosso amor.
Minha paixão pela literatura começou aos 8 anos, quando ganhei da minha mãe o livro “Caçadas de Pedrinho” de Monteiro Lobato. Notívago desde a infância, fui eu quem caçou o Pedrinho madrugada a dentro. Posso dizer que li todas as aventuras do “Sítio do Picapau Amarelo”, uma ligada a outra e, por último, “Os 12 Trabalhos de Hércules”, a quem devo minha paixão pela mitologia greco-romana. Quando Lobato morreu, eu tinha dez anos. Meu pai anunciou na hora do almoço:
-“Morreu Monteiro Lobato”.
Imediatamente parei de comer. Acho que foi uma demonstração inequívoca da minha devoção. Para mim, o ato de almoçar era sagrado.
Antes do meu primeiro romance, que só aconteceu graças à insistência do meu amigo e editor Luiz Schwarcz, eu já havia escrito para jornais e revistas. Minha primeira aventura começou nos anos 1960, na Última Hora, escrevendo sobre os movimentos teatrais e sobre a noite paulistana. Minha pequena coluna chamava a atenção pelo estilo jornalístico apurado. Como é que eu conseguia aquilo praticamente sem experiência alguma? A explicação desse mistério é muito fácil: quem copidescava minha coluna era um jovem crítico de cinema chamado Ignácio de Loyola Brandão. Copidescar, segundo o dicionário, significa: “aperfeiçoar um texto com fins de publicação.” Eu entregava minha coluna e quando eu a lia publicada parecia outra. Eu sempre comentava: “Puxa! É impressionante como a minha coluna melhora entre a chegada e a saída!”
Escrever, para mim, é a atividade mais difícil. Quando pensei em juntar a primeira visita da divina Sarah Bernhardt ao Brasil, fato histórico, à vinda de Sherlock Holmes, personagem de ficção, não queria escrever eu mesmo o livro. Meu respeito pela literatura é tamanho que eu não tinha coragem de enfrentar um romance. Liguei para o Rubem Fonseca, amigo por quem tenho a maior admiração e disse: “Zé Rubem, acho que tive uma ideia que daria um belo romance pra você escrever.” Depois que contei, Zé Rubem respondeu, sempre cerimonioso:
-“Larga de ser vagabundo, senta e escreve!”
Graças a Deus, segui o seu conselho. Contei esta história num programa “Roda Viva” por ocasião do lançamento do “O Xangô de Baker Street”, e o Luis Fernando Veríssimo, que era um dos entrevistadores, perguntou:
-“Quando o Zé Rubem não quis escrever, por que é que você não ofereceu a ideia pra outros amigos?”
Quanto a Sarah Bernhardt, tenho até vontade de voltar a escrever, desta vez, sobre sua segunda viagem ao Brasil, acontecimento real, também acompanhada dos seus amigos fictícios, Holmes e Watson. Há uma anedota que circulava na época sobre um encontro ocorrido entre a diva e o então presidente marechal Floriano Peixoto, uma espécie de Costa e Silva daquele tempo. Sarah estava no Brasil justamente quando ocorreu a revolta da armada liderada pelo almirante Custódio de Melo. Dizem que Floriano teria perguntado o que ela achava daquele momento político. Quando traduziram a pergunta para a divina Sarah, ela teria respondido em francês:
-“Je ne me melle pas de ses affaires”.
Imediatamente, Floriano pulou de espada em punho:
-“Ela viu o Melo com seis alferes? Onde!?”
A propósito, vou me permitir uma piada maldosa, que me foi contada por minha mãe. Dizem que, quando Sarah voltou aos palcos, em Paris, depois de perder uma perna, devido a um acidente ocorrido no Brasil durante uma representação da “Tosca”, a expectativa era enorme. Todos queriam saber como a “Divina” se sairia andando com uma prótese de madeira. Quando antes da cortina abrir, para anunciar o início do espetáculo, o contrarregra executou as três “pancadinhas de Molière”, como era de praxe, “pan-pan-pan”, alguém na plateia exclamou: “É ela!”
Terminando, devo dizer que estou aqui hoje, graças à generosidade de vocês, acadêmicos, e, entre vocês, alguns companheiros de tantos anos. Também falei de certas mulheres que foram muito importantes na minha vida e esqueci de agradecer a mais importante de todas: minha mãe. Tamanho era seu orgulho por mim, que se entrava num táxi, puxava conversa com o motorista só para poder dizer: “sabe de quem eu sou mãe? Do Jô Soares.” O que me irritava profundamente. Perdão, mamãe. É principalmente nesses momentos que sinto saudades dela. Lembro-me de uma história real, também ligada à França. Quando Napoleão foi sagrado imperador pelo Papa Pio VII, aliás, por ele mesmo, tomando a coroa das mãos do Papa e colocando-a, sobre a própria cabeça, ao sair da catedral, virou-se para seu irmão Joseph, rei de Nápoles, e sussurrou:
“E aí, Joseph! Já pensou? Se mamãe nos visse...”
Com todo respeito, vou parafrasear Napoleão:
“E aí, mamãe! Já pensou? Se você me visse! Fui aceito na Academia Paulista de Letras!”
Muito obrigado.
Jô.
São Paulo, 10 de Novembro de 2016.
 voltar
voltar