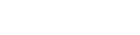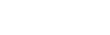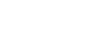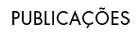|
 |

Acadêmico: Bolívar Lamounier
"Minhas primeiras palavras só podem ser de agradecimento pela distinção que me concedestes ao eleger-me para suceder a Alcântara Silveira nesta Casa de tão ricas tradições; nesta Academia Paulista, por onde passaram tantas figuras maiúsculas da história e da cultura brasileiras"
Discurso de posse em 16/04/1998
Exmo. Sr. Dr. Rubens Teixeira Scavone, presidente da Academia Paulista de Letras;
Senhores membros da Diretoria;
Autoridades presentes, senhores representantes de legações estrangeiras;
Caríssimos confrades e confreiras;
Senhoras e senhores, parentes e amigos queridos.
Senhores acadêmicos!
Minhas primeiras palavras só podem ser de agradecimento pela distinção que me concedestes ao eleger-me para suceder a Alcântara Silveira nesta Casa de tão ricas tradições; nesta Academia Paulista, por onde passaram tantas figuras maiúsculas da história e da cultura brasileiras, e que hoje encontra na obra e na dedicação de vossas excelências a imprescindível e adequada continuação.
Não alimento a fantasia de que possais ter pressentido algum mérito literário nesse material esparso que até aqui me foi dado publicar, situado, em sua quase totalidade, nos áridos domínios da sociologia e da ciência política. Mais provável é que tenhais adivinhado o meu desejo - este sim, intenso e amadurecido -, de juntar-me a vós, no limite de minhas forças, nesse que é o melhor dos combates: o zelo por nosso idioma e a defesa da cultura e das letras brasileiras. Defesa que naturalmente não exclui, antes pressupõe, uma relação de mútuo enriquecimento com toda a latinidade e com as letras e a cultura universais.
Devo também agradecer-vos a generosidade, a amizade e o calor com que me acolhestes em vosso convívio.
Senhor Presidente:
Em seu romance de estréia THE FAR EUPHRATES (O Distante Eufrates)(1),o jovem escritor canadense Arieh Lev Stollman nos diz, pela boca de um personagem:
"...one can never take away what has been spoken, as every spoken word is an eternal creation. Like God, we create and destroy our own world with words"
"...nunca se pode retirar aquilo que foi dito, pois toda palavra é criação eterna. Como Deus, temos a capacidade de criar e de destruir o nosso mundo com palavras".
Da tragédia grega a Shakespeare, e de Shakespeare aos nossos dias, a consciência dessa potencialidade ao mesmo tempo construtiva e destrutiva da palavra tem sido uma das mais poderosas conexões entre a criação literária e a reflexão política. Dentre as inúmeras questões que suscita, uma me parece especialmente atual e fascinante, pois diz respeito ao que, de maneira nem sempre cautelosa, costumamos designar como o progresso do espírito humano, vale dizer, o progresso da sociedade e da civilização.
Realmente, sob o prisma da palavra, o que chamamos de progresso parece ser a resultante de duas forças que atuam em sentidos opostos, em difícil equilíbrio: de um lado, na esfera pública, a aceitação, e de outro, na esfera privada, a remoção de limites ao que é dito e à forma de se dizer.
De um lado, na esfera pública, a aceitação de limites: um processo que talvez se possa designar como institucionalização do comedimento, que tem como marco inicial a própria formação do Estado Constitucional moderno e como cerne a contínua busca de procedimentos normativos com o objetivo de moderar facciosismos e neutralizar paixões infelizmente sempre possíveis nos embates partidários, no processo eleitoral e na atividade parlamentar. Já na esfera privada - na intimidade familiar, nas relações amorosas, na sociabilidade mais próxima, no lazer e de certo modo até nos meios de comunicação -, o que chamamos de progresso é antes o avanço da informalidade - ou até mais que isso, a atribuição de um valor muitíssimo maior à desinibição, ao despojamento, a uma franqueza às vezes rude e agressiva -, do que ao comedimento e à autocontenção. De fato, na esfera privada, os traços fundamentais deste nosso século parecem ser o abandono de tudo aquilo que o século 19 entendera e rejeitara como "moral burguesa"- como formalismo e hipocrisia -, e o advento do que se tem chamado de "liberação", "transparência", "autenticidade", ou seja, dessa comunicação desimpedida a que ora me refiro: comunicação do que pensamos, do que sentimos, do que presumimos, do que imaginamos, e até do que sonhamos ou julgamos haver descoberto em nosso subconsciente -, aceitando-se para o conjunto da vida social, e dando-se como positivo, e como mais autenticamente humano, um âmbito de comunicação que antes só parecia admissível no consultório psicológico, na fruição silenciosa da obra literária e talvez no teatro.
Não quero incidir na presunção pessoal e na ingenuidade filosófica de emitir juízos de valor abrangentes sobre esses movimentos ou processos históricos e que aludi, como se me fosse dado descortinar toda a sua infinita riqueza. Quem sou eu, senhores acadêmicos, para dizer a felicidade dos seres humanos, na esfera privada, é mais bem servida pelo comedimento algo formal de outras épocas ou por essa franqueza às vezes chocante que parece ser o ideal de nossos dias?
Sobre o poder destrutivo da palavra na esfera pública, sobre a palavra como portadora de malquerenças e acirramentos, eu talvez tivesse algo a dizer.
Entendo que os sistemas políticos; os Estados e regimes que nos governam; as instituições que nos regem; as sociedades e subsociedades em que vivemos; mesmo os sistemas econômicos; todos esses ordenamentos cuja estrutura os grandes filósofos da antigüidade helênica já delineavam com espantosa densidade, mas que ainda hoje desafiam a nossa inteligência, não são naturais e necessários, e sim contingentes. Às vezes desmoronam com estrondo - e disso temos exemplos até na história recente. Construídos com a esquiva argamassa da palavra - mensageira do entendimento, mas também de seu contrário -, esses mundos sempre nos haverão de impressionar por sua extraordinária, sua irremissível e não raro angustiante precariedade.
Mas não é de destruição, senhor presidente, senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores; é de construção que vos quero falar.
Quem refletir sobre a formação histórica de um povo constatará que múltiplas terão sido as contribuições. A construção de instituições duradouras e de uma identidade nacional estável deve-se a esses que habitualmente chamamos de "homens públicos" - líderes políticos, juristas, profissionais de imprensa -, mas também a artistas, músicos, pintores, poetas, escritores, mesmo àqueles cuja temática parece eminentemente privada, pessoal e íntima; participam, todos esses, desse amplo processo social que é a construção do que somos e de nossa maneira de ser, de nossa sensibilidade comum, vale dizer, de nossa identidade como povo.
Senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores:
Se é grande a responsabilidade, grande é também o meu privilégio: o intelectual e a satisfação cívica de ocupar uma cadeira que tem Américo de Campos como patrono e Carlos de Campos como fundador, e que foi sucessivamente ocupada por Artur Mota, Francisco Pati e Alcântara Silveira. Nessa linhagem - como em todas as que integram a herança comum desta Academia -, associaram-se, de maneira superlativa, a dedicação ao bem comum e a sensibilidade cultural; a presença na esfera pública, no jornalismo, no debate de idéias, tratando de construir um país sempre melhor, e a exata noção do papel que as letras e as artes haveriam e hão de desempenhar nesse belo projeto. Noção que não era apenas intelectual, cerebrina, mas também pessoal, emotiva, já que todos eles, de Américo de Campos a Alcântara Silveira, sentiram na alma o bom e poderoso chamado das artes.
Américo de Campos e Carlos de Campos, tio e sobrinho, foram ambos publicistas, homens de ação, ativistas dos movimentos abolicionista e republicano. Mas foram também homens de aguda sensibilidade artística. AMÉRICO DE CAMPOS, o patrono da cadeira 16, nasceu em Bragança, São Paulo, educou-se em Campinas e faleceu em 1900, em Nápoles, onde se encontrava como titular do Consulado brasileiro. No necrológio que lhe dedicou, a ele se referiu Júlio Mesquita como "campeão audaz e dedicadíssimo de todas as grandes causas que aqui se debateram no agitado período de 1865 a 1889". Dedicação que não o impedia, porém de cultivar intensamente a música, fato evidenciado pelos laços de amizade que manteve, desde a juventude, com Carlos Gomes, o futuro autor de Il Guarany, com quem compartilhou estudos e ao lado de quem tomou parte no coro da igreja de Campinas.
Assim como seu ilustre tio, que é o patrono, também CARLOS DE CAMPOS, o fundador da cadeira 16, foi atraído, ao mesmo tempo, para a arte e para a vida pública. Como pianista e compositor de peças líricas, demonstrou talento, a ponto de Alcântara Silveira e Francisco Pati terem julgado que ingressou na política sem vocação, mais por influência paterna que por uma inclinação pessoal consistente. O fato, entretanto, é que ingressou; com o tempo, o eixo vital de Carlos de Campos deslocar-se-ia decisivamente para a esfera pública. Prócer do PRP (o velho Partido Republicano Paulista), seguiu o exemplo do pai, Bernardino de Campos, dedicando-se com afinco à propaganda abolicionista e republicana. Foi deputado e senador estadual, Secretário de Justiça - a partir de 1896, quando Campos Sales era governador de São Paulo -, e depois deputado federal e governador (naquela época se dizia "presidente da província"). Em 1924, eleito governador, viu-se logo a braços com a insurreição chefiada pelo general Isidoro Dias Lopes, empenhando-se energicamente em reprimi-la. Viria a falecer três anos mais tarde, no exercício da função, sem concluir o mandato que recebera das urnas.
De ARTUR MOTA, quase se pode dizer que fez o percurso inverso. Formado em engenharia e tendo, segundo pude depreender, prestado importantes serviços ao Estado e ao país, no campo da engenharia sanitária, esteve, por assim dizer, no umbral da vida política; não resistiu, porém, ao encanto das musas, em particular daquelas que o queriam debruçado literalmente debruçado, como pesquisador incansável que foi -, sobre a história da literatura brasileira. De fato, esse engenheiro nascido no Rio de Janeiro construiu para si uma segunda personalidade - e não digo isto para desmerecê-lo, mas para melhor reverenciá-lo -, tornando-se, na ótima expressão de Alcântara Silveira, um "beneditino das letras", Meticuloso, coligiu informações que terão sido e possivelmente ainda são utilíssimas a todos quantos se proponham a repensar a literatura brasileira desde os seus primórdios no período colonial(2).
O estudo biográfico que Artur Mota escreveu sobre José de Alencar retrata o escritor cearense não apenas como o grande romancista que todos conhecemos, mas também como o publicista, parlamentar e denso pensador político que José de Alencar também foi. Conservador quanto aos costumes, Artur Mota mostrava-se entretanto generoso e progressista em suas reflexões sobre as mazelas sociais brasileiras. A profunda admiração que nutria pelo romancista José de Alencar não o impediu de deixar explícita e extensamente consignada a sua discordância em relação ao José de Alencar político, no tocante à abolição da escravatura. Parecia-lhe ambígua, senão francamente retrógrada e inaceitável a posição assumida pelo escritor/ político cearense na candente questão da abolição da escravatura por meios diretos, isto é, por meio de atos legislativos. "Podiam assistir a Alencar sobejas razões de ordem jurídica e até mesmo política”... - é de Artur Mota esta voz “... mas não nos podemos conformar com a idéia de ficar um espírito superior e progressista adstricto à resistência formal e tenaz contra uma medida de tão elevado alcance para o nosso país” (idem, pág.2l2).
A exemplo de Artur Mota, também seu sucessor, FRANCISCO PATI pendia muito mais para a vida privada e para a criação artística que para a vida pública e política. Não me parece que esta avaliação seja desmentida pela apaixonada militância jornalística de Pati, nem pelas incursões que no terreno da sociologia política, a mais importante das quais parece-me ser o livro Militarismo e Parlamentarismo, publicado em 1933. Não, Pati não era político. Era jornalista, tradutor, sobretudo de literatura italiana, ficcionista e cultor apaixonado da obra de Machado de Assis, tendo mesmo escrito um "dicionário de Machado de Assis", no qual faz laboriosa dissecação de todos os personagens criados pelo nosso maior romancista. E nem preciso lembrar que Pati era poeta. Ao contrário de Artur Mota, o pesquisador austero que franzia o sobrolho para certos hábitos da juventude paulistana, Francisco Pati quis sentir de perto aquela vida mais tipicamente urbana que se ia formando nesta paulicéia. Chegou mesmo a escrever um pequeno texto rememorando as confrarias literárias informais que se reuniam nos bares do centro de São Paulo, aquelas reuniões que se prolongavam noite adentro, nas quais devem ter nascido não poucos poemas, inclusive, quem sabe, o Fausto e Don Juan, que deve ser o mais conhecido dos trabalhos poéticos do próprio Pati(3).
Senhor presidente, senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores:
Sei que me estendo e não vos apresento sequer uma aquarela, nem um mísero bico-de-pena da rica herança que nos legaram os meus antecessores na cadeira 16. Permiti, então, que eu passe sem demora à personalidade e à obra de meu antecessor direto, ALCÂNTARA SILVEIRA, a quem não tive o privilégio de conhecer pessoalmente, mas cuja obra me desperta fortes associações emotivas.
Advogado, servidor público do Estado em várias funções, jornalista, Alcântara Silveira nasceu em Itapira, São Paulo, em 1910. Prestou importantes serviços ao estudo e à difusão, entre nós, da literatura francesa, e tomou-se de especial paixão pela obra de Marcel Proust, sobre a qual publicou substanciosa introdução. Escreveu também vários artigos ou pequenos ensaios de aparência despretenciosa, mas que valem como verdadeiros projetos de pesquisa sobre aspectos relevantíssimos da vida literária e cultural brasileira. Permiti que faça aqui uma breve referência a alguns desses estudos e ensaios(4). Primeiro, sobre a presença feminina nas letras e na cultura brasileira. Presença numericamente crescente, como sabemos, mas Alcântara Silveira não se detém nesse aspecto superficial: o que o atrai é a densidade, a qualidade, a riqueza; e como poderia eu tocar neste tema, senhor presidente, sem me referir à marcante presença - nesta Casa e na cultura brasileira -, de Anna Maria Martins, de Esther Figueiredo Ferraz, de Lygia Fagundes Telles e de Myriam Ellis?
A mim que me sinto adotado e aconchegado por São Paulo, mas que sou nascido em Minas Gerais - no antigo Arraial de Nossa Senhora das Dores da Serra da Saudade do Indaiá Grande, depois município de Dores do Indaiá - comoveu-me especialmente a trenódia (Mestre Aurélio recomenda acento no "i": trenodía) em que Alcântara Silveira se despede de Dantas Mota, mineiro de Aiuruoca, o grande poeta das Elegias do País das Gerais.
Fui ver, fui reler, fui ouvir a pungente e poderosa linguagem das Elegias de Dantas Mota:
"Os homens desgostam a paisagem/
e dão à terra livre e tranquila
este ar de riqueza dura e cruel”(5)
É verdade, senhor presidente: nós, brasileiros, ainda não nos demos conta de que o descaso pelo que nos é próximo e familiar é uma forma gratuita e por isso especialmente cruel de destruição. Eram duros os golpes que o avanço nem sempre cuidadoso dos empreendimentos agrícolas e industriais, e da mineração, começavam a infligir à paisagem mineira, ali por volta da Segunda Grande Guerra. Mas dura, cruel, estúpida e desnecessária é também essa agressão quotidiana que se vem infligindo à paisagem urbana brasileira- se é que ainda podemos falar em paisagem urbana, imersos como estamos na desordem visual de nossas grandes cidades. Penso, senhores acadêmicos, que a melhoria da vida material é condição necessária, mas não suficiente para contermos o ímpeto destrutivo de certas forças que hoje atuam sobre o nosso cotidiano e nos dilaceram como sociedade. A construção do bom convívio exige carinho pelo patrimônio histórico, artístico e cultural; e carinho, também, por tudo aquilo que nos proporcione referências estáveis e facilite o reconhecimento de nossa identidade comum; por ruas, lugares e praças que nos desarmem e descontraiam, e sejam testemunho de nosso apreço e de nossa afeição por uma parte ao menos de nosso passado.
Senhores acadêmicos:
Mineiro sou, mas poeta não fui na juventude, poeta não sou hoje, e a ninguém atormentarei, nesta encarnação, com pretensão dessa ordem. Desejaria apenas, se cabível fosse, se nolo permitisse o nosso regimento, que se consignasse em ata a inveja que sinto dos poetas que têm assento nesta Casa - dos propriamente ditos e dos alegadamente bissextos.
Mas volto a Minas, se mo permitis, para referir-me a dois poetas que recordo de maneira especial: um que não cheguei a conhecer como desejaria e outro a quem conheci, conheço e cada vez mais admiro.
De Emílio Moura, vem-me nitidamente à memória a figura alta, magra, curva, com um cigarro meio apagado a descer-lhe da boca. Era a prova oral de português - já lá se vão quase quarenta anos-, em meu exame vestibular para ingresso na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Minas Gerais; faculdade e universidade onde despontavam, nessa mesma época, o talento e a dedicação do nosso confrade nesta Academia, meu fraternal amigo Fábio Lucas. Eu não sabia - ai de mim -, que quem ali estava, com paciência de Jó, a apontar-me os sofrimentos que eu infligira à gramática, era não apenas dorense como eu, mas também um dos maiores poetas.
Com Affonso Romano de SantAnna, a quem primeiro conhecera na juventude universitária e no jornalismo, em Belo Horizonte, pude conviver por bom período em Los Angeles (Califórnia), em 1965-1966, quando realizava meus estudos de pós-graduação. Não poucas vezes o ouvi, naquela sua peculiar maneira de pensar brincando, a dizer em voz bem alta: "Ora direis, ouvir estrelas".../ "Absalão, Absalão, meu filho Absalão, quem me dera morrera por ti, Absalão, meu filho" / "Em tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo..." Se mais não aprendi de literatura e poesia, nesse período para mim tão enriquecedor de nosso convívio, foi porque não soube, ou porque me faltam mesmo condições para tanto. Meses depois, tendo eu retornado ao Brasil, e achando-me privado de minha liberdade, tomei conhecimento, pelos jornais, de um poema que Affonso Romano me havia dedicado; e logo vi que a dedicatória transcendia a esfera privada dessa amizade de que tanto me orgulho, pois equivalia, de fato, a uma manifestação pública de solidariedade e inconformismo.
Mas divago, senhor presidente; tento embrenhar-me nas idéias de meu ilustre antecessor na cadeira 16, mas delas parece que me afasto.
Deixou-nos também Alcântara Silveira um riquíssimo ensaio sobre o conteúdo poético da música popular brasileira; um relato com forte marca pessoal, desses que todos achamos que iremos um dia escrever, com uma ponta de egoísmo, na ilusão de que escrevê-lo tornaria individual e privado esse carinho coletivo que devotamos aos nossos compositores, cantores e instrumentistas populares. Mas Alcântara Silveira obviamente queria ir mais longe: queria atrair-nos para uma reflexão muito mais extensa sobre esse parentesco, essa misteriosa fecundação mútua que existe entre a poesia e a música. Nisso não sei se fico com Manuel Bandeira - para quem sempre haverá um abismo entre essas duas artes, por maiores que sejam as afinidades entre elas -, ou com aquele profeta do modernismo latinoamericano, aquele grande nicaraguense que foi Rubén Dario, cuja obra poética pode ser entendida justamente como uma busca da unidade oculta entre as artes - como se um fator subjacente, que ele acreditava ser a musicalidade - articulasse o sentido e a evolução imanente de todas elas(6). O que imagino, ou acho que sei, é que se aqui estivesse, entre nós, com certeza estaria Alcântara Silveira a nos cativar ainda mais com seu profundo conhecimento dessa poesia que brota diretamente da inspiração dos nossos músicos populares; a falar-nos daquela outra, que preexiste como poesia e vai para a música, que remonta a Tomás Antônio Gonzaga, ao próprio Castro Alves, e refulge, neste século, na obra de um Mário de Andrade, de um Bandeira, de um Vinicius de Morais. Mostrando-nos a poetização, se assim posso dizê-lo, de versos que, desgrudados das belas composições musicais em que surgiram, talvez nos passassem despercebidos, mas que, graças a elas, desabrocham como poesia e trafegam nessa sensibilidade que compartilhamos como povo, e que mais e mais se robustece graças à nossa singular unidade lingüística.
E como falar dessa relação entre poesia, música e sensibilidade comum, conceitualmente tão cara a Alcântara Silveira, sem lembrar a graciosa "Modinha" de Cecília Meireles?:
"Tantos sóis e tantas luas/
brilharam sobre essas linhas,/
das cantigas - que eram tuas -/
das palavras - que eram minhas/.(7)
Senhor presidente, senhores acadêmicos:
Na puberdade intelectual, nós, cientistas políticos, nos acreditamos detentores de um conhecimento rigoroso e definitivo, análogo àquele que nos oferecem as ciências da natureza. Na maturidade essa presunção se esvai e nos convencemos de que o saber político, - tanto o do homem de ação como o do estudioso acadêmico - é aproximativo, incompleto, eis que seu objetivo é o domínio sempre incerto e contingente do comportamento humano coletivo. Tende mais à "prudência", saber humano, lastreado na experiência, que à "pro-vidência", saber antecipado, próprio dos deuses - como nos lembra Pierre Aubenque em seu La Prudence chez Aristote.(8)
Escolarizado no segundo após-guerra, assimilei na juventude uma crença algo hegeliana num contínuo aprimoramento da humanidade, e ainda hoje não vejo como possa prescindir inteiramente dessa crença, já que prescindir dela equivaleria a adotar a premissa inversa, de um mundo sem rumo, no qual não houvesse sinais da divina providência.
Um traço preocupante do mundo atual é o desapreço ao que tudo indica crescente do cidadão cidadão comum pelas engrenagens fundamentais da democracia representativa: pelos processos eleitorais, pelos partidos e sobretudo pelas casas legislativas. Na verdade não sabemos quanto dessa atitude se deve a deficiências objetivas dessas instituições; quanto ao ritmo necessariamente lento do processo legislativo, talvez incompatível com as urgências decisórias da economia atual; quanto à escala e ao acirramento crescentes dos conflitos ideológicos e de classe na moderna sociedade industrial - segundo a hipótese pessimista que prevalecia até três ou quatro décadas atrás; e quanto ao processo contrário, ou seja, à diluição e mesmo ao esmaecimento daqueles conflitos, à medida em que a sociedade se torna multifária e flexível, em que grupos outrora distanciados e estanques se interpenetram, se fundem e se confundem, e resolvem diretamente as suas pendências, aparentemente tornando a representação política menos necessária, segundo a hipótese algo otimista deste final de século.
Outro tema fundamental deste fim de século é o chamado "fim das ideologias"; melhor dizendo, a redução dos antagonismos ideológicos. A esse respeito, tive o privilégio de ouvir, ainda há poucos dias, na Federação das Indústrias de São Paulo, memorável palestra do nosso confrade Miguel Reale; desse mestre de quem não tive o privilégio de ser aluno, no sentido formal do termo, mas com quem tanto tenho aprendido. A quem tenho ouvido, sempre com admiração e alegria, desde a primeira oportunidade que tive de com ele conviver, em meados da década passada, na Comissão de Estudos Constitucionais - a chamada Comissão Afonso Arinos; desde 1989, no Conselho de Orientação Política e Social da FIESP, e agora nesta Academia Paulista de Letras, à qual dificilmente teria ousado me candidatar, se dele não tivesse recebido tão generoso incentivo.
É sem dúvida uma evolução imensa, o podermos reconhecer que o mundo não está rigidamente dividido entre direita e esquerda, entre conservadores e progressistas, que a nenhuma corrente de pensamento é dado desvendar de antemão o acontecer histórico, e que nenhuma detém o monopólio das boas intenções sociais. Penso que as reformas e mudanças que ora começam a ser implementadas no Brasil serão facilitadas por essa redução dos antagonismos ideológicos, que ocorre por toda parte, mas a decisão de empreendê-las decorreu sobretudo do reconhecimento pragmático da necessidade de reorganizarmos as áreas de atuação do Estado e da iniciativa privada, com vistas a um equilíbrio mais adequado e economicamente eficiente.
No que se refere à distribuição da riqueza e da renda, à distribuição das oportunidades - a nossas mazelas sociais, enfim -, sabemos todos que são o legado nefando de nossa história econômica, agravado, no decorrer deste século, pela imperdoável série de erros e omissões que fomos acumulando, na fixação das prioridades governamentais; e estamos todos de acordo em que desigualdades sociais dessa magnitude são não apenas indesejáveis, mas também, a médio prazo, rigorosamente insustentáveis. Por isso tenho dito, e não o faço para causar escândalo, que conservadores em sentido estrito já não existem no Brasil, ou existem em ínfima minoria. Conservadores em sentido estrito são aqueles a que se referiu Karl Mannheim em magistral ensaio: os que valorizam incondicionalmente a permanência, que vêem o status quo social como um fim em si mesmo, que vêem as desigualdades sociais, até as mais extremas, como naturais e desejáveis, e chegam mesmo a emprestar-lhes certa conotação estética. A dificuldade que ainda temos pela frente não é ideológica, nesse sentido fundamentalista. É política, e não convém subestimá-la. É que os diferentes grupos sociais e a maioria dos cidadãos, individualmente considerados, continuarão a defender intransigentemente as suas posições relativas, se ou enquanto não chegarmos a um acordo definitivo quanto a caminhos realistas e pacíficos para a redução das distâncias sociais hoje existente(9).
Outro importante tema contemporâneo, quiçá o mais importante, é a chamada globalização e seu impacto sobre os Estados nacionais, objeto de profícua reflexão do confrade Ives Gandra da Silva Martins, que sobre ele tem realizado e coordenado valiosos estudos(10).
Eis aqui, senhores acadêmicos, uma das grandes, talvez a maior das perplexidades de nossa época.
A revolução econômica e tecnológica das últimas duas décadas colocou-nos diante de dois enormes pontos de interrogação. Um, a respeito da própria permanência do Estado nacional como hoje o conhecemos, isto é, como unidade política básica e soberana. Outro, referente àquela expectativa de uma lenta e ordenada maturação dos processos históricos, implícita na visão do mundo que herdamos do segundo após-guerra. Parece-me que o fato novo é propriamente a visão de um mundo globalizado, e sim da globalização como um processo em franca aceleração, como um futuro ao que tudo indica inexorável e prestes a se materializar; é o fato de já estarmos experimentando um grau de interdependência econômica nunca antes imaginado, diante do qual as identidades nacionais que hoje conhecemos podem sucumbir ou se debilitar sensivelmente. Interdependência - excusado é dizê-lo-, que pode trazer benefícios incalculáveis a toda a humanidade, como alavanca de um novo surto de crescimento econômico, mas que, ao menos de imediato, não parece trazer em seu bojo nenhuma inspiração ética capaz de mobilizar corações e mentes, em escala planetária. Para a literatura, e para as artes, de modo geral, esta é uma indagação excruciante. A produção cultural e artística tem hoje ao seu dispor meios técnicos verdadeiramente portentosos; mas de que nos servirão eles se o mundo para o qual caminhamos for apenas, como alguns temem, uma grande aldeia mercantil? Se mirradas forem as nossas aspirações quanto ao futuro da condição humana?
CONCLUSÃO
Senhor presidente, senhores acadêmicos:
Cedendo ao impulso de uma imperdoável loquacidade, me estendi além do razoável. Me utilizei de toda a escala e temo nada vos haver dito de relevante sobre o tema que me propus desenvolver: a complexidade e a inevitável precariedade dos mundos públicos. Perdoai-me se concluo no outro extremo; no mais intenso e apaixonante dentre os mundos privados de que temos conhecimento na literatura: o mundo da memória, da recordação e da descoberta a que fomos conduzidos pela mão de Marcel Proust.
“Acho muito razoável - diz Proust, nas Recherche - a crença céltica de que as almas daqueles a quem perdemos se acham cativas nalgum ser inferior, num animal, um vegetal, uma coisa inanimada; efetivamente perdidas para nós até o dia, que para muitos nunca chega, em que nos sucede passar por perto da árvore, entrar na posse do objeto que lhe serve de prisão. Então, elas palpitam, nos chamam, e, logo que as reconhecemos, está quebrado o encanto. Libertadas por nós, venceram a morte e voltam a viver conosco. Assim é com o nosso passado”(11)
Se nenhum outro débito tivesse eu contraído com esta Casa, nestes primeiros meses de convívio, já muito eu lhe deveria, pois deu-me ela o alento de que necessitava para sair em busca de uma parte de mim que se ia perdendo, aprisionada, quem sabe, nalguma pedra ou árvore; alento para relembrar caminhos, pessoas, versos, livros - esses seres todos de que me fui fazendo, e dos quais, de algum modo, minha alma será sempre cativa. Ao concluir, pondero a distinção que me concedestes, alçando-me à condição de acadêmico; lembro-me de minhas irmãs e de meus irmãos e penso em minha esposa, aqui e sempre presente; rezo por meus pais, já falecidos, a quem tanto devo, e comovido evoco o ensinamento de Goethe:
"Was du ererbt von deinen Vátern hast,
Erwirb es, um es zu besitzen".
“O que de teus pais herdaste,
faze por merecê-lo, se o queres possuir”(12).
Muito obrigado!
 voltar
voltar