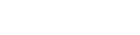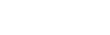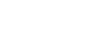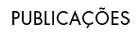|
 |

Acadêmico: José Renato Nalini
Todo o enquadramento jurídico de ‘natureza’ se baseia numa concepção que era muito adequada há meio século
Falta Direito para a natureza?
A oportunidade é rara: muito dinheiro sobrando para aplicar na fixação de carbono em florestas brasileiras; muitas alternativas florestais para investir – e quase nada acontecendo. Um paradoxo e tanto.
Claro, acontecem negócios – inclusive grandes – no setor. Mas não há mercado regular. Compradores e vendedores sofrem para encontrar um meio de se acertar. Quando encontram, precisam de malabarismos para colocar as coisas em linguagem jurídica.
Não se trata de acidente. Todo o enquadramento jurídico de natureza se baseia numa concepção que era muito adequada há meio século, quando os primeiros ambientalistas foram atrás de advogados capazes de criar mecanismos legais para resolver o grande problema de então: evitar a destruição de áreas naturais. Uma lista dos princípios doutrinários criados nesse tempo basta para entender o sentido da legislação que veio depois: precaução; prevenção; equilíbrio; poluidor pagador; limite; responsabilidade.
A estrutura jurídica segundo a qual natureza era a parte fraca, numa relação com homens dotados de grande poder de destruição, gerou as leis que proibiam a parte forte de agir contra aquela indefesa. Pessoas interessadas na proteção da natureza puderem recorrer ao Judiciário, para enquadrar a ação de destruição como ato que justificava o emprego da força estatal contra o agente agressor.
Aparentemente, toda a estrutura proibitiva mais se aproximava do Código Penal. O Ministério Público passou a ser o grande agente, representando o direito difuso da parte fraca. Os agentes do mundo real só apareceram como criminosos.
A lei cumpriu sua missão: com ela, acabou a era em que crianças eram ensinadas a caçar em fazendas; a pesca predatória era uma farra; a motosserra ou os tratores de esteira, veículos considerados civilizatórios; a fumaça das chaminés, sinal de progresso; e as grandes obras que alteravam ecossistemas, orgulho nacional. Mas, até por causa dela, por toda parte o mundo mudou. Quando da Conferência do Clima de Estocolmo, em 1972, não havia qualquer espécie de norma internacional com relação ao aquecimento global. Para ser breve no contínuo aperfeiçoamento: desde o Acordo de Paris (2015) existe norma mundial, com poder de sanção sendo implementado, para o combate ao aquecimento.
Também mudou muito a consciência planetária. A quantidade de agentes que interiorizou os princípios ambientais é muito grande. Da mudança da consciência, passaram para os atos. Voluntariamente. São esses agentes, com renovada consciência, que estão desenvolvendo ações que vão desde as cláusulas ambientais em contratos privados até programas internacionais complexos envolvendo transição energética.
Mas o cenário jurídico no qual essas novas vontades podem se acertar contratualmente, e dentro dos objetivos de equilíbrio ambiental de ambas, esbarra hoje numa leitura acanhada e restritiva do arcabouço legal.
Alguns exemplos essenciais. Um proprietário de florestas disposto a manter as árvores de pé tem hoje uma só alternativa legal: renunciar ao uso de sua propriedade. Não pode receber dinheiro de fixação de carbono, pois esse tipo de pagamento está reservado a restauros florestais. A única alternativa econômica é desmatar ilegalmente – o que aumenta o valor de mercado da terra, permite exploração econômica. Dá dinheiro.
Esse é, hoje em dia, um absurdo. Existe vontade comum e existe dinheiro para promover melhorias na situação da natureza. Manter florestas e restaurar florestas, por exemplo. Dinheiro que só pode funcionar com uma nova realidade jurídica. Com uma relação muito diferente daquela desenhada no enquadramento de meio século atrás, que supunha apenas a ação humana de destruição.
Um exemplo: floresta em área degradada não nasce naturalmente. O restauro exige gente trabalhando cotidianamente, especialmente nos primeiros anos. Isso custa dinheiro. Depois que a floresta volta, é preciso manter o carbono fixado por um longo prazo. O restauro exige várias garantias contratuais: 1) o dinheiro vai ser aplicado corretamente; 2) os pagamentos para a floresta estabilizada são por carbono fixado – portanto essa mercadoria (comprada por tonelada, não é serviço) deve ser mantida fixada segundo o tempo contratado; 3) o investidor tem de cumprir suas obrigações com o proprietário; 4) o investidor deve poder recorrer à força da autoridade, se o contrato não for cumprido; e 5) inadimplentes devem ser obrigados a reparar danos.
Falta o exercício hermenêutico de enquadrar as relações entre homem e natureza a partir da norma abrangente do artigo 225 da Constituição federal. Sem desfazer o quadro de proibições. Mas interpretar de forma inteligente a prolífica normatividade infraconstitucional vigente. Uma leitura compatível com a urgência da regularização do uso sustentável da floresta, de forma a estimular o proprietário a preservar, porque mais lucrativo do que destruir.
Assim se venceria algo que hoje é a grande barreira para a entrada de capitais de fora; o investimento desse capital na contratação de trabalho; a criação de renda para quem trabalha e quem empreende. O meio ambiente agradece novas realidades contratuais – e o País ganha. Tudo já está no ordenamento. Bastam um exercício menos anacrônico e vontade política de extrair dele o regramento pelo qual o Brasil empreendedor está a clamar.
Autoria de José Renato Nalini e Jorge Caldeira
*SÃO, RESPECTIVAMENTE, SECRETÁRIO-GERAL DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS; E ESCRITOR, MEMBRO DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS
Publicado no jornal O Estado de S. Paulo/Espaço Aberto, em 15 10 2023
 voltar
voltar