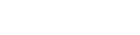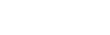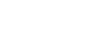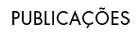|
 |

Acadêmico: José de Souza Martins
Para muitos de nós, este será o último Natal de nossas vidas. A pandemia
abreviou a vida de muitos. Não só a pandemia o fez, mas também o modo oportunista
e irresponsável como vem sendo administradas as condições de enfrentamento de
um risco mortal como esse. Como se fosse uma questão militar, em que a vida é
apenas subproduto de um cálculo de probabilidade no confronto armado entre
inimigos inconciliáveis.
Para muitos de nós, este será o último Natal de nossas vidas. A pandemia
abreviou a vida de muitos. Não só a pandemia o fez, mas também o modo oportunista e irresponsável como vem sendo administradas as condições de enfrentamento de um risco mortal como esse. Como se fosse uma questão militar, em que a vida é apenas subproduto de um cálculo de probabilidade no confronto armado entre inimigos inconciliáveis. Aqui é a guerra incivilizada do poder contra o povo. E não como realmente deveria ser, uma guerra pela vida, questão de saúde pública e de seres humanos que tem direito a viver e a sobreviver. Muitos que pagaram ou ainda pagam impostos por esse direito, não raro maiores do que os benefícios que recebem de volta.
No Brasil de hoje, os velhos, os desvalidos, as crianças são cada vez mais
tratados como estorvos descartáveis, pois não são considerados produtivos nem
lucrativos. Como se a vida valesse pela lucratividade e não pela negação humana da
lucratividade e da coisificação das pessoas que a caracteriza. Estamos numa guerra de princípios, em que o mal já derrotou o bem.
Há um ano, no Natal de 2019, a maioria de nós não podia adivinhar que na noite de 24 de dezembro, nos sentávamos à mesa da fingida fartura da despedida,
pois a economia já estava em crise. O fingimento se estenderá também por esta noite natalina de 2020, muito provavelmente o último fingimento de uma cultura que começou há pouco mais de cem anos. Foi quando nos tornamos estrangeiros em nossa terra que, não sabíamos, de vários modos já era uma terra alheia e do alheio, de um povo de mentalidade alheia.
Aqui no Brasil, na virada do século XIX para o XX, éramos felizes e patriotas
tardios: menos de cem anos antes, havíamos vencido o colonialismo português e nos
tornáramos independentes pagando à Inglaterra, em prestações suadas, nossa
Independência. No fim do século XIX, o Conde de Afonso Celso (1860-1938) publicou um livro marcante sobre nossa eufórica concepção de pátria: “Porque Me Ufano de Meu País”. Nós nos ufanávamos de tudo que Deus nos dera e esquecíamos de muitas coisas belas e decisivas que este povo havia feito, com trabalho e inteligência. Aliás, a primeira Constituição, de 1824, foi escrita em nome da Santíssima Trindade, não em nome do povo, que não se sabia bem o que era.
Neste provável último Natal, quase tudo faltará à mesa dos brasileiros, mesmo
dos brasileiros despistados. Aqueles que escolhem para governá-los e a todos nós,
governantes nascidos e criados nas perspectivas toscas e simplórias da mentalidade servil da dependência. Gente que nasceu simbolicamente inspirada no dedo no gatilho, de John Wayne (1907-1979).
O resto é coisa de comunista, dizem. Os ignorantes não sabem que comunista,
comunidade e comunhão tem uma raiz comum, a que define a sociedade da partilha
e da solidariedade. Comunhão vem de comer juntos, à mesma mesa.
Na verdade já somos estrangeiros há muito porque afastados das raízes
perdidas de nossa memória. Quando um general entende que o Brasil só tem sentido como peça de um jogo geopolítico centrado nos interesses americanos, já não temos o direito de esperar que nos respeitem. Menos ainda do ponto de vista militar.
Quando um presidente da República brasileiro encontra o presidente americano
numa reunião da ONU, em 2019, e lhe diz “I love you” (“ai love iú”, com sotaque
nheengatu...) e recebe como resposta, em inglês, um reles “bom te ver de novo”, de
paixão não correspondida, alguma coisa está errada: ou o país ou o governo ou o
patrão.
Nossa dependência nunca foi tão cômica. Mas é antiga. Primeiro, o eles que
existe em nossa cultura desde quando tentamos nos tornar brasileiros, foi sendo
inventado por nós mesmos. Foi fácil ocupar o nosso jardim e, depois, matar o nosso
cão e convencer-nos a cuspir em nossa cara o desprezo pelos nossos sonhos e pela
solução de nossas carências.
A história do Natal no Brasil tem uma função nessa metamorfose que recolonizou nossa mente e nos privou de nós mesmos. Foi quando começamos a importar neve falsa para enfeitar a falsa árvore de Natal que não conhecíamos, do pinheiro que não tínhamos. Só mesmo caipiras como nós somos, com muito orgulho, poderiam usar como árvore do Natal postiça uma bela araucária e ainda por cima incluir pinhão no cardápio da nova maneira de comer e de gostar. Mesmo o Natal era para nós outra coisa. Começávamos a nos tornar modernos, isto é estrangeiros.
Só faltava mascar chiclé de bola.
Aqui, o que se comemorava era o Dia dos Santos Reis, os portadores das dádivas para o Menino Jesus, o dia 6 de janeiro. Era o dia de dar para as crianças um presente significativo, como beijos e abraços. E o doce mais doce, que era o doce de batata doce.
Artigo publicado em Eu& Fim de Semana, jornal Valor Econômico, Ano 21, nº 1.046, São Paulo, Qusrta-feira, 23 de dezembro de 2020, p. 3.
 voltar
voltar