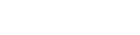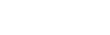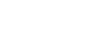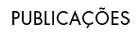|
 |
Acadêmico: Hernâni Donato
Esta aceitação é parte do destino de São Paulo intelectual. Este 1972 - Ano Internacional do Livro - assinala também o cinquentenário da Semana de Arte Moderna, divisor das águas literárias e das artes brasileiras.
Senhores acadêmicos!
A aula era de gramática. Mas o rapazinho, embarcado na fantasia dos doze anos, navegava pelo Mar das Antilhas. Descrevia, com rugidos de ventos, ribombos de canhões e urros de maruja, o combate de um galeão pejado de ouro e de mulheres bonitas contra um brigue pirata estimulado pela sede de ouro e de belas mulheres.
Nada de próclise, de ênclise, de mesóclise. Embalava-se em heroísmos e ternuras. Escrevia e sorria. Planejava terminar o episódio, deixando os barcos retalhados pela borrasca e ralados pelos tiros, os homens feridos e mortos, as mulheres em pânico. O Francisco Marins, a quem caberia escrever a continuação, na aula seguinte - geografia - que desse tratos à bola para consertar os navios, cuidar dos homens e acalmar as passageiras. Pois o capítulo da novela, a dois autores, deveria ser publicado em jornal de São Paulo poucos dias mais tarde.
Ouviu-se pigarro apagadinho, fraquinho e contudo mais forte do que o canhão e o temporal. Tossezinha marca registrada do professor Campos que acompanhara a batalha por cima destes meus ombros. E sentenciava, sob riso da classe:
- Em gramática, nota dois. Mas, vá lá, você ainda me acaba em academia.
Ele, bom mestre, morreu faz anos. Eu, hoje, entro para a Academia. O Francisco Marins vem receber-me à porta. Ouço aplausos em vez de risos. Louvado seja Deus que tem sido tão bondoso para comigo. Sempre lembrados sejam Cassiano Ricardo, Osmar Pimentel, Francisco Marins, Octacílio de Carvalho Lopes, Luís Martins que apadrinharam a minha candidatura. Como serão lembrados os 35 acadêmicos que me estenderam a mão, dando-me seu voto. De modo especial o entusiasmo de primeira hora de Alceu Maynard, Afrânio do Amaral, Fernando de Azevedo, Maria de Lourdes Teixeira, Paulo Bomfim, José Geraldo Vieira, Menotti del Picchia, Cândido Mota Filho.
Senhor Presidente. Senhores Acadêmicos. Amigas. Amigos.
Começo o meu discurso narrando, sem pretensão de iluminar a noite acadêmica com a pirotecnia de malabarismos retóricos. É que sou apenas escritor. Um ficcionista, para mais. Penso que ao ficcionista, chegando à Academia, lhe convém apresentar-se com a arte simples, correntia, de narrar. Depois, triste papel faria eu se pretendesse ataviar-me com as galas da eloquência sucedendo, na cadeira vinte, a dois tribunos do porte dos meus antecessores. Nessa não caio. Sequer tentarei aproximar-me deles.
Servidor de letras, o que escrevi vem do povo, como quer a definição de Stendhal: "o romance é espelho ao longo do caminho". A minha ficção restringiu-se, até aqui, aos limites do meu próprio olhar: a minha terra, a sua gente, o chão bruto do trabalho, do sonho, da ambição desbravadora; a selva trágica na qual a despeito dos seus sentimentos emaranham-se os homens, pobres filhos do destino, algozes e vítimas desse rio do tempo que é o breve curso da vida. Dessas coisas é que devera falar, pois é verdadeiro o dito de Ser Giovanni Fiorentini - "Qui de terra est, de terra loquitur".
Ora, nasci na serra, entre planalto e céu, terra do ranchinho "à beira-chão/todo cheio de buracos/donde a lua faz clarão", nos versos de Angelino de Oliveira. Isso foi em 1922, numa Botucatu ainda capital de sertão, confluência fervente de culturas, de sangue, de inquietação. Resultei, homem e escritor, um pouco desse tempo e desse lugar.
Cidade e tempo em que a combalida riqueza do café era substituída pelas gloriosas safras de professores saídos de uma das primeiras Escolas Normais do interior; do nascente proletariado urbano, rosnando Marx e ladainhando a Rerum Novarum; do último caingangue cedendo lugar ao primeiro japonês; do bispado, extenso quanto a terça parte do Estado; do remanescente folclórico dos confederados americanos; da onipresente atividade italiana; do comércio levantinizado; do forte extrato português; do avanço protestante em cidade episcopal; da exuberante alegria dos negros extravasada em procissões puxadas obrigatoriamente por São Benedito e em batuques convocados pelo famoso tambu Sete Léguas. Havia bandeiras diante de vice-consulados; dois jornais em línguas estrangeiras; diário e revista em vernáculo; orquestra nos cinemas e confeitarias da moda; tribunal do júri que atraía a multidão e requisitava os maiores nomes da tribuna paulistana.
De certo, nas escolas, liam-se e declamavam-se as poesias do livro "Flores do Campo", apreciado pelo doce ruralismo e pela maviosidade dos seus versos: "Flores do Campo".
Seu autor, José Ezequiel Freire de Lima. Nascido em fazenda de Rezende, cronicara e poetara em jornais e revistas fluminenses e guanabarinas. Formara-se advogado em São Paulo, fora juiz em Araras, exercia o magistério no curso anexo da faculdade de Direito, frequentava as páginas do "Correio Paulistano" e de outras publicações locais.
Professor, advogado e jornalista, a popularidade lhe viera e se mantinha pela via dos versos. Encontrara o endereço da apreciação popular. Sem o rótulo do Simbolismo, "Flores do Campo" fora legítimo precursor do Simbolismo, contínuo referir-se às relações entre os sentidos e as emoções, os perfumes e as cores, as cores e os sons. Ele definiu a inspiração como "a integração da alma do Poeta com a Natureza".
Vivia mais ou menos recluso na casa grande da Rua da Consolação, entre poucos amigos, um jardim no qual procurava aclimatar variedades estrangeiras ao lado das autênticas flores do campo. Em casa, vasta biblioteca e bom acervo de peças orientais. Nos pulmões, a doença fatal.
Aos quarenta e oito anos, pressentiu a morte. Foi para o interior, escolheu o lugar para a sepultura, enviou aos amigos cartão tarjado de negro em sobrecarta negra. Com tinta branca e belo cursivo, escrevera: "Por conta de maior quantia / Rezai por ele / Pater Noster e Ave Maria...". Oito dias depois, novembro, 1891, falecia. Deitaram-no à sombra do salgueiro que indicara.
Morto, não foi abandonado pela poesia e pela originalidade. O salgueiro deu lugar à coluna de mármore. O mármore continuou a chorar sobre a tumba. Jovens enamorados, sabendo que ali estava um poeta, vinham colher a água gotejante na lápide, considerada filtro amoroso de grandes virtudes. A que maior homenagem pode aspirar um poeta? Andou bem, portanto, Reinaldo Porchat, ao apontar Ezequiel Freire patrono desta cadeira vinte.
Pelo Brasil interior, "Flores do Campo" continuava lembrado. Ainda nos anos vinte, as suas rimas eram repetidas. Certamente, também na minha cidade.
Nessa cidade e nesse tempo fui ter àquela onde, graças a mestres como Amaral Wagner e Euclides de Campos, o idioma e a literatura não eram apenas ensinados mais instilados persistentemente nas sensibilidades adolescentes. Na carteira ao lado estava Francisco Marins e no portão de saída Alceu Maynard Araújo e Ibiapaba Martins. Das janelas da sala, via-se a chácara onde, menina, brincara e por certo exercitara sua imaginação a Maria José, hoje a festejada Madame Leandro Dupré. Nos porões, o servente Severiano mostrava rabiscos deixados nas paredes pelo nervosismo criativo do lápis de Cornélio Pires, anotando alguns de seus livros ricos de brasileirismo.
Numa escola assim, numa cidade assim, éramos compelidos à leitura, à tentativa de escrever, de fazer jornais, de promover debates literários muito para lá das exigências curriculares. Animávamos as rodas de boemia e poesia e música, tomando soda limonada com cachaça - bebida de estudante pobre, comendo pastéis de tostão no bar do Turidu e indo serenatear debaixo de sacadas determinadas ou declamar o "Noivado do Sepulcro" empoleirados exatamente sobre o muro do cemitério.
Alceu se foi ensinar as primeiras letras e a coletar folclore lá pela camparia do Pirambóia. Onde também deixou traços de influência. Anos depois, num sábado à tarde, fui bater à casa de seu Lisandro, exímio fabricante de pios para chamar inambu. Estava sozinha a dona Maria, sozinha e lamentosa: - "Pois não é sábado? O velho foi pra vila fazer das suas malfazenças". Eu quis dar consolo e simpatia: Que é isso, dona Maria?! Na idade dele... Cortou-me: "Qual nada, meu senhor. Já dizia aqui mesmo o professor Alceu que cumbuca que guardou pimenta sempre conserva o ardume."
Herdamos a sua liderança e continuamos agitando o nosso universozinho intelectual. Tantas fizemos, que acabamos, Marins, alguns mais e eu, por criar nada mais do que uma. . . academia.
Deus nos perdoe o nome: Academia Juvenilística Literária. Reuniões semanais, multa para os faltosos, apresentação obrigatória de trabalhos, debates sobre livros momentosos, um jornal sui-generis, porque datilografado e de exemplar único, circulante entre os acadêmicos. Ah!, mas importante mesmo foi a biblioteca. Era pública, porém o gênio industrioso do atual secretário geral desta Academia e então ecônomo daquela, encontrou fórmula para aumentar o número de livros: as retiradas faziam-se mediante pagamento. Duzentos réis à semana! Nunca a gente simples do Bairro Alto e da Boa Vista teve tanto que ler e leu tanto. De modo especial, romances populares e poesia.
Estavam em moda as poesias musicadas. Marcelo Tupinambá dera ritmo a duas especialmente apreciadas: "Na estrada da vida" e "O semeador", versos de poeta titular desta Casa.
Era ele Reinaldo Porchat. Subira de Santos, trabalhara no comércio, formara-se no Largo de São Francisco para onde voltara em 1897, ao ser nomeado lente substituto da primeira seção, oportunidade em que apresentou a tese "A posição jurídica dos Estados federados perante o Estado federal", ainda hoje um autêntico vade-mecum na especialidade.
Tomou posse a 23 de outubro. Naquele então, a cerimônia de posse era soleníssima. Gente solene, solene a postura e a roupa. De rigor. Na hora marcada para a Faculdade, Reinaldo ainda está em casa. É que começa a nascer-lhe o filho - esse campeão da simpatia e do porchaísmo que é o Alcir, aí presente, no auditório. Pois Reinaldo chegou à solenidade de sua posse, com hora e meia de atraso. Quase um escândalo que ele debelou com o fascínio e o natural bom humor que punha em tudo. Cumprimentou: - Desculpem e compreendam. Sou o único pai que espera seus filhos, vestindo fraque e cartola.
Professor dos mais queridos, não obstante dos mais severos. Pelágio Lobo explica: "O rigor que o novo lente punha no ensino e a exigência da assiduidade que desafiava chuvas, mormaços e tempestades".
Em meados de 1903, com a jubilação do lente Frederico José Cardoso de Araújo Abranches, Reinaldo passou a catedrático de direito romano. Quando, em 1907, publica parte de seu "Curso elementar de direito romano", já era um expoente. Seguiram-se lições e discursos em repetidos e crescentes sucessos.
Mas é em 1921 que vive momento andino de sua atividade tribunícia. Rui Barbosa, paraninfo da turma de 1920, cria, para esta, a magistral "Oração aos moços". Porém não pôde vir pronunciá-la. Escolhe para lê-la o maior tribuno de São Paulo - Reinaldo Porchat. O que foi aquela noite inapagável da crônica da oratória nacional, resumiu-o Marcondes Filho, no Senado Federal, em 1954: "o melhor discurso dito pelo melhor orador numa apoteose intelectual (...) ao se ouvir Porchat, com as suas qualidades extraordinárias de orador, na leitura de uma das páginas mais belas da literatura brasileira". Porchat não se limitou a ler a "Oração aos moços". Criou, para ela e para si, uma personalidade, um momento de arte oratória. Correram vozes, em seguida, de que chegara a contratar um diretor de teatro e um ator muito em moda, para conceber e ensaiar a sua movimentação na tribuna. Seriam apenas vozes. Bem que ele dispensava tais ensinamentos.
A estudantada, que o apreciava como mestre, estimava-o como poeta. Repetia-se pelos corredores, com o toque de malícia própria da época, a poesia "Lição de francês". Há nela um poeta-professor que para ensinar a aluna a dizer corretamente "baiser", tenta, e acaba por sapecar um beijo na boca da aluna.
Beijo, aliás, foi o tema da saudação a Olavo Bilac, a 9-10-1916. Não estava programado para festejar a visita que Bilac fazia à Faculdade. Mas, como sucedia frequentemente, os estudantes romperam em coro: "Fala o Porchat!" Esboçou a negativa de praxe. O coro robusteceu-se, ensurdecia. Adiantou-se, então, intimando à casa: "Os moços querem que fale. Falarei!" E em torno dos velhos temas - beijo e amor manteve suspensos, durante quarenta minutos, assistência e visitante.
Mas em poesia, não improvisava. Era cauteloso, exigente. Observava a harmonia entre forma e fundo. Em banquete oferecido a Vicente de Carvalho, teceu este hino ao lavor formal: "assim como a custosa jóia pede escrínio condigno em que se encaixe, assim também a idéia pede a forma perfeita, que a concretize, que a conserve e que a transmita, sem desfeiá-la, ou encobri-la". Não perdia ocasião para enaltecer o artesanato poético. Com afirmações assim: "A alma do poeta, eis tudo. Emocione-se ela com as próprias idéias, ou com aquilo que ouve ou vê, a poesia surge bela, radiosa e sedutora, desde que, banhada de luz do gênio, abra as asas cantando o que o poeta sente". Definição que é, por si, bonita poesia.
Punha sua inspiração romântica a serviço de parnasianismo aclarado pelo apuro da forma e da linguagem. Era um ourives do verso. Como neste "Anagrama de Maria":
"Camões Natércia fez de Catarina / Alencar fez de América Iracema / E eu, de que farei, minha divina, / Se não do verbo amar? Difícil tema, / Pois que me falta o i... Porém eu vejo / Que o farei, se perdoas a ousadia: / Colhendo em tua boca o i de um beijo, / Junto às letras de amar, faço Maria" .
Não se tratava de qualquer Maria, mas de Maria Júlia, a escolhida de sua vida. Para ela compusera um poema de noivado. Para ela, muitos poemas de esposo apaixonado. Um dia, 1921, ao entrar na classe, com o apuro e a pontualidade de sempre, porém trazendo luto na roupa e nas feições, o espanto dos rapazes foi grande. Hesitou por um átimo, ele que jamais hesitava. Explicou: "Desculpem. É a primeira aula depois que me foi a minha Maria Júlia". A classe tremeu. Ele não ocultou lágrimas misturadas às primeiras palavras da lição. E muitos daqueles moços - confessaram mais tarde - choraram com ele, solidários com o amigo.
Esse poeta, esse lírico que, chefiando um dos maiores escritórios de advocacia, aconselhava sempre o acordo como a melhor solução, era rígido, austero, franco mas humano e cordial. Em 1919, após a convulsão da epidemia de gripe, um decreto matriculava sem exame todos os candidatos inscritos. Francisco Pati, entre eles, relatou: "Os calouros, roupas reviradas, cabelos enfarinhados pelo trote, entraram na sala número dois. Porchat vem recebê-los. Fita-os e saúda-os: "Meus senhores! É a primeira vez, em tantos e tão longos anos de magistério, que me cabe dirigir a palavra a uma turma beneficiada por um decreto vergonhoso. Os senhores não entraram pela porta da frente, mas pela do fundo. É um péssimo começo". Ante o total aparvalhamento dos beneficiados não culpados, serenou, abrandou o brilho do olhar e abriu-lhes os braços: "Senhores, sede bem-vindos!".
O tribuno que o sucedeu nesta Casa descreveu-o como orador e mestre: "sua frase foi sempre musical e profunda. Suas preleções ou discursos eram invariavelmente páginas de poesia. Tinha-se a impressão de que dedilhava uma lira, quando nos conduzia, do alto da tribuna, através da História externa do Direito Romano..., A voz, os gestos, a linguagem e a forma denunciavam nele o homem habituado ao convívio das Musas. Vinha-lhe por certo da harmonia interior do coração e do cérebro a música da palavra escorreita e sonora".
Igualmente preciso e eloquente é o testemunho de Plínio Barreto, num artigo publicado em "O Estado de S. Paulo" e relativo à capacidade de liderança de Porchat: "... dos arguentes que me foi dado ouvir... o mais empolgante foi Reinaldo Porchat... deslumbrou literalmente o auditório com o rigor da argumentação exposta em linguagem precisa e pura, modulada, com uma extraordinária riqueza de inflexões, por uma voz límpida e sonora".
Com tantas qualidades, saiu-lhe à frente, para seduzi-lo, a sereia da política. Fizeram-no Senador estadual. O orador fascinante, o líder natural e autêntico, o poeta romântico, o professor festejado, revelou-se, na casa de leis, tudo aquilo e ainda outro homem. Organizado, preciso, metódico, vigilante ao ponto de irritar os menos disciplinados dos colegas. Não votava sem obter e analisar todas as informações, confrontar os números, perquirir as consequências. Trabalhava tanto nas comissões quanto brilhava no plenário. A rigor, não era um procedimento insólito. Mas ele não se limitava a agir desse modo. Insistia em que esse deveria ser o modo de agir de todos. Desagradaram-se dele. E ele, de todos e de tudo. A 26 de dezembro, 1925, decorrido ano e meio de exercício, pronuncia discurso que abalou o Senado paulista e o organismo político nacional. Renunciou à senatória, verberando: "A minha dignidade não me permite que me mantenha nesta cadeira quando estou convencido que o meu trabalho e os meus esforços são anulados pela submissão do Senado ao Poder Executivo. Assim foi em Roma. E Roma não teve remédio".
Não foi para o descanso. Prosseguiu a batalha do ensino e da cultura, a dirigir - como o fez por muitos anos - o Conselho Superior de Ensino. Voltou-se com maior afinco à poesia, à historiografia, às lições. Concluiria o livro de direito romano e escreveria "A pessoa física no direito romano", "A retroatividade das leis civis", reuniria seus principais discursos em volume de permanente atualidade. Ocupou com distinção rara a diretoria da sua Faculdade e em 1925 aposentou-se. Mas em 34, ao ser criada a Universidade de São Paulo, foi nomeado Reitor, sob aplausos gerais.
Esse o fundador da cadeira vinte desta Academia. Cadeira que dignificou até 1941 quando desejou ser transferido para a categoria de honorário, proporcionando a José Soares de Melo o privilégio de empossar-se sob o olhar e o aplauso do antecessor. Em idade avançada, Reinaldo Porchat continuava a ser o jovem inquieto, ativo e produtivo, capaz de alternar serões de cálido convívio intelectual e matinadas de equitação que iam além de sessenta quilômetros. Sua intensa atividade física e mental não conheceu declínio. Praticamente não adoeceu. Aos 85 anos, de uma congestão deslizou para a morte. Era o 12 de outubro de 1953.
Senhores Acadêmicos. Amigas. Amigos.
É sábia a prescrição regimental de que se tragam para a luz festiva da posse os nomes, os feitos, os trabalhos, os ideais dos que passaram e foram viver outro tipo de glória. Disse-o bem Leonardo da Vinci ao assegurar que "imergir as coisas na luz é imergi-las no infinito".
No infinito da nossa ternura, que é saudade e homenagem, permanecem os que nos antecederam. Ao considerar-lhes as vidas e os trabalhos, conforta-me evocar que Dante Alighieri imagina não haver senão entendimento sereno e doce colóquio entre os que se foram "deixando na terra os nomes engrandecidos por justa fama" e os que ficam a seguir-lhes os passos. Vale dizer que o ideal comum, o amor ao trabalho intelectual permanece nas coisas realizadas e vive naquelas por realizar, produzindo uma espécie de entendimento entre os mortos e os vivos.
Reunidos na outra margem, vejo Freire, Porchat e Soares de Melo. Ligando-nos como "ideal compartilhado em serena e frutuosa alegria", o arraigado amor aos livros.
O LIVRO E O SEU ANO INTERNACIONAL
O livro é a estrada que nos trouxe - a eles, a vós, a mim, de longitudes diversas, para este porto-oficina do Largo do Arouche.
Sinto-me agraciado pelo destino, com a coincidência de ser este 1972 o ano de minha vinda para a Academia e o Ano Internacional do Livro. Desde a infância, cultuei os livros e procurei cultivar os bons autores. Amei e invejei Manuel Bandeira quando li, dele, a confissão: "minha casa também é uma cama entre estantes". Minha primeira compra, com dinheiro ganho na venda de vidros a uma farmácia, foi um livro: a História Naval Brasileira. Das poucas gravuras pregadas à parede do meu quarto de adolescente destacava um desenho de Hendrick van Loon, para o seu livro "Tolerância". Mostrava o primeiro vendedor ambulante de livros. Em áspera montanha, sob neve e vento, curvado ao peso do precioso fardo, brilhavam-lhe fortemente os olhos. Conhecia o valor de sua riqueza. Conduzia-a, fugindo à censura, à incompreensão, ao medo provocado por toda luz nova. Presumi que se orgulhasse de levar ao homem a revelação do homem, de mostrar os povos ao povo. Não esqueci esse homem. Elegi-o meu parente.
Nem por outros motivos - continuo pensando - antes da imprensa que é técnica humana, os livros foram produzidos em conventos, que são recantos divinos. Hoje, quando o Brasil edita mais de dez mil títulos por ano, parece-nos difícil imaginar o afã dos mosteiros medievais, até equiparando a tarefa de copiar à virtude de orar. Priores garantiam aos monges copistas que linha reproduzida equivalia a pecado redimido. Orderico Vitale, saboroso memorialista, divulgou a lenda do frade salvo ao inferno pela margem de uma sílaba.
Apesar do anunciado prêmio celeste, tão fatigante seria aquela tarefa, que esses patronos dos nossos editores também almejariam consolações terrestres. O historiador Haskins guarda palimpsesto no qual o copista - esperemos não fosse um monge - ajuntou à palavra "Fim" este desabafo: "e ao transcritor, em recompensa pela sua fadiga, bem podiam dar uma cerveja e uma bela garota".
Desde quando o rústico manuscrito sobre papiro foi enrolado e passou a chamar-se liber, o homem deu o segundo grande passo na própria evolução. Antes, pusera-se de pé. Com o livro, aproximou-se de Deus.
O LIVRO E O FUTURO
Não estou esquecido de que continua em circulação o agouro do fim da palavra escrita. Televisão, cinema, som melódico e até códigos de sinalização tomariam o lugar do livro.
Mas sim, estou convicto de que os fatos aclararam essa projeção e o futuro da palavra escrita pode ser melhor distinguido. Parece certo que o sucesso de tais meios de comunicação - sem precedentes na mobilização do interesse humano - é exercido menos sobre os que lêem habitualmente do que junto aos que não sabem ler ou apenas lêem..
Trata-se da rápida ascensão econômica e da lenta escalada cultural de quase metade da humanidade. Quebrado o silêncio informativo e rompido o confinamento geográfico, milhões saíram, estonteados, para o pátio iluminado do som e do movimento. O sucesso de Cabral exigiu decênios para ser conhecido na Europa Central. Mas a descida do homem na Lua foi acompanhada de tal modo, que o analfabeto pôde ter a sensação de haver descido com os astronautas. Julgou-se forte, apto a exigir participação, governar auditórios, criar receitas de popularidade. Erigido em ídolo da comodidade e do mínimo esforço, ele quer mais. Querendo mais, envolverá ou será levado a progredir, para não perecer.
Virá a fase do refinamento, do transitar do objeto para o símbolo. O enorme contingente que está a reclamar informações e diversões reclamará formação, instrução. Ou seja, cultura, literatura. Sempre e onde os meios eletrônicos introduziram multidões na apreciação dos tesouros culturais, o livro cresceu no amor do povo.
Podemos estar certos. Ao final do processo de integração cultural das massas economicamente emergentes, não acontecerá a fulminação da escrita pela ação da imagem. É até provável que venha a ocorrer uma prestação de serviços, do som e da imagem e de quantos outros recursos se tornarem comuns, em favor da escrita, isto é, do livro.
Esta confiança na elevação da cultura popular e no futuro do livro não foge, antes comunga com a natureza e o destino das Academias. Foi isso claramente afirmado, embora com outras palavras, em sessão no Teatro Municipal, quando a Reinaldo Porchat sucedeu José Soares de Melo.
JOSÉ SOARES DE MELO
Esta casa, Senhores Acadêmicos - como outras sedes da inteligência brasileira, encontra-se ainda aquecida e ressoante, com a memória da sua pessoa e com a força do seu verbo. Guardam não já a sua memória, porém ainda a sua presença.
Presença aliciante, convincente, preensora de atenção. Possuía, em alto grau, o dom de polarizar interesse. Começando a falar, a atenção dos circunstantes era geral, ninguém se animava a interromper para emitir opinião. O enriquecimento que dava aos assuntos, numa variedade cromática de informações e de cultura, calava os ouvintes que o deixavam discorrer, solto e fascinante, bólido no espaço.
Perfeccionista, escreveu, ensinou, pesquisou, discursou, submisso ao cilício que é a busca da excelência, fosse em uma frase ou em uma atitude. Seguiu Mark Twain para quem a "diferença entre a palavra certa e a palavra quase certa é a diferença entre o relâmpago e o vagalume". De sua oratória poder-se-ia afirmar o que de Joaquim Nabuco dissera Oliveira Lima: “suas palavras chegam ao coração sem precisar dos ouvidos”.
Verdade que a natureza o exornara com qualidades naturais de bom orador. Mas não ocultava o esforço demandado pela manutenção desse domínio. Cultivando a sua arte, fazia diuturnamente por melhorá-la. Revelou, no discurso de posse: "Fragilidade da glória do orador! Os que conhecem a tortura das vigílias laboriosas e povoadas de sobressaltos; a angústia da espera; o pavor do momento decisivo; a consciência de que cada discurso é uma estréia; que o malogro pode advir de mínimas circunstâncias; de uma noite mal repousada; de uma enfermidade momentânea; de uma notícia inesperada;
só esses poderão dar valor ao dom miraculoso de convencer e agradar, à ventura de se sentirem transfigurados, no instante doloroso e bendito da criação".
Meu compadre, o gravador Guersoni, conterrâneo de Soares, deu-me um saboroso depoimento. Menino, cuidava da montaria do professor que regia escolinhas encravadas entre fazendas. O potreirinho vizinhava chão dos Melo. Indo e vindo, muita vez levou o professor a perder a hora, pois ficava a ouvir o estudante José que, encarapitado nas raízes da figueira, ensaiava discursos eloquentes dirigindo-se aos bois, ao cafezal, aos mourões da cerca. Era, já, o amor e o esmero pela arte oratória.
Foi sempre assim responsável, operoso, participante, o rapaz de Monte Alto (7-7-1898), que, entrando em 1915 para a Faculdade de Direito de São Paulo, viu-se logo requisitado para as posições vanguardeiras de quantos movimentos sociais, literários, estudantis, empolgassem a capital provinciana. Nesses anos desenvolveu qualidades de liderança tanto mais vigorosas quanto discretas. Por exemplo, os que participaram da fundação do Pen Clube de São Paulo gostam de lembrar a forma pela qual Soares de Melo mobilizou-os, interessou-os, reuniu-os, catalizou-os e voltou para o Rio, deixando fundado o clube.
Hábil no impressionar, era impressionável. Ao sair da Faculdade, em 1920, levava um exemplo permanente para a vida e o trabalho: Rui Barbosa. Sempre o admirara. Mas, fazendo parte da comissão que levara o paranifado a Rui e recebera o legado da "Oração aos moços", ouviu-a na criação oratória de Reinaldo Porchat. Aliás, é digno de nota o paralelismo existente entre as vidas de Porchat e de Soares, capítulo de uma história que certamente ainda será contada. Mas ouvindo Porchat, lendo e relendo a "Oração", o jovem sentiu reforçada a admiração pelo talento onímodo de Rui.
Formado, dirige-se a Paris, onde, por quatro anos frequenta oficialmente a Escola de Chartres e a de Ciências Políticas e, oficiosamente, para regalo da alma e robustecimento da cultura, as livrarias, os arquivos, os museus.
Volta a São Paulo para traçar a carreira de jurista, professor, historiógrafo, escritor. Em 1924, promotor público, arrastava para a sala do júri compacta assistência. Depressa, a sua erudição e o seu modo de ser constituíram-se em ponto de referência da cultura paulista. De tal modo, fundada a Faculdade de Ciências Econômicas e Sociais, quiseram-no professor de Filosofia da História Política. Nesse mesmo ano, 1931, integra a comissão elaboradora do anteprojeto do código do processo penal do Estado. Três anos mais e é o presidente do Tribunal do Júri. Impunha tal correção e dignidade ao cargo, que Alcir Porchat, grande viajante e frequentador de plenários, anotou: "Nem na Inglaterra vi presidente igual!" E Fernando Góes registrou no "Diário da Noite": ... "tal elevação, tal sobranceria, que se podia dizer - e se dizia - que o Tribunal do Júri era ele".
Em setembro, 1937, substitui o mestre Cândido Mota na cadeira de Direito Penal, cátedra que enobreceria também no estrangeiro. Como sucedeu na Itália, 1938, durante o Primeiro Congresso Internacional de Criminologia. De Roma, foi ter, no ano seguinte, a universidades chinesas e japonesas, por delegação da reitoria paulistana. E ainda brilhou intensamente em Coimbra, quando em companhia do reitor da USP retribuiu visita feita a São Paulo pelos lusitanos.
Trabalhador infatigável, levantava-se ao clarear do dia, permanecendo horas entre livros e anotações, mesmo antes do desjejum. Raramente voltou para casa sem trazer livro novo, sem ter recolhido uma informação, obtido um endereço, despertada uma curiosidade. Mas encontrava tempo para sentar-se à sombra de um plátano da Praça da República e, durante horas, delinear para um amigo a orientação e a estrutura do livro que trazia em gestação.
Nesses livros, em todos os seus trabalhos, foi exemplarmente fiel ao objetivo de esclarecer, contribuir, iluminar ângulos obscuros e restaurar verdades. Parecia guiar-se pela diferenciação estabelecida por John Ruskin, segundo a qual há duas classes de livros: "livros do momento e livros de todos os momentos". São de todos os momentos livros como "O júri e a limitação dos debates", "Contribuição à história da polícia de São Paulo", "Do delito impossível", "Da receptação", "Juízes criminais", "O ministério público paulista", todos do campo do Direito; e "Os emboabas", do terreno histórico.
Fazer tudo bem feito era artigo de seu credo pessoal. Apaixonava-se pelo tema, entregava-se ao trabalho com ardor desmedido e com entusiasmo que era contágio imediato. Seu arquivo guarda cartas da filha e da nora de Dreyfus, testemunhando quanto soubera cativá-las, a elas que muitos entrevistadores haviam tornado desconfiadas, esquivas. Vira-as em Paris, quando empenhado em colher nas fontes elementos de minúcias sobre a famosa questão. Entrara nessa batalha, especialmente grata ao seu temperamento, mais para defender Rui do que propriamente Dreyfus. Da inocência deste o mundo já não duvidava. Estava em causa a precedência de Rui no alertar a França quanto a tal inocência. Teria sido este o mais difícil, o mais trabalhado e o mais polêmico dos escritos de Soares de Melo. Batia-se por seu ídolo. Respondia, ainda que setorialmente, a um livro de repercussão: "Rui, o homem e o mito", de Magalhães Júnior. Produziu "Rui e a questão Dreyfus" (1968), ensaio que ficará também como exemplo para obras de confronto. Obra de autor e de homem decidido.
Eis outro traço marcante de seu caráter. Linear, sem rebuços, direto. Talvez mesmo um pouco teimoso no sustentar os seus bem-quereres. Assim, vivendo no Rio manifestou reiteradamente seu carinho por São Paulo para a qual reservava afeições e primícias. Quis receber aqui, em sua Faculdade, a Legião de Honra concedida pela França em seguida à noite em que no Pen Clube do Rio apresentou uma prévia do ensaio focalizando a Marselhesa e a vida da França.
Fez mais por São Paulo. Confiou a amigos desejar morrer aqui. De preferência à sombra da Faculdade e se pudesse escolher, falando aos jovens a respeito da obra de Rui. Pois o destino chegou a ensaiar a satisfação dessa vontade. Assim é que, 1971, festejando-se o cinquentenário da "Oração aos moços", não se cogitou de outro nome que o de Soares para a oração evocativa. Já então a saúde lhe pedida cuidados. Médicos e achegados sugeriram não como resposta. Respondeu sim. A nenhum preço faltaria ao encontro com seu ideal. Para tranquilizar os preocupados, anunciou que escreveria o discurso, o que era contra seus hábitos. Mas Ernesto Leme - que privou com ele - avança uma teoria: Soares reunira trechos do segundo volume da série defesa de Rui e, no momento de falar, improvisaria o alinhavo entre as páginas. Esse, o improvisador brilhante, era o verdadeiro Soares.
Com o aproximar-se da festa, pôs-se inquieto. "Não vá suceder comigo o que aconteceu ao Rui - ter que indicar alguém para ler o discurso e ficar preso no Rio por motivos de saúde!" No dia 29 de março de 1971 estava a postos, em São Paulo, na Faculdade. Nas palavras iniciais, reserva que era advertência: "É a primeira vez que eu falo sentado nesta sala, mas o meu estado de saúde isso me impõe". Passou à evocação minuciosa, carinhosa, dos entendimentos entre os formandos de 1920 e o seu patrono. Descrevia a atuação de Reinaldo Porchat, quando deixou cair o papel, calou-se, curvando-se sobre a mesa. Demonstrava sofrer. Sessão suspensa, agitação, comoção, ambulância a correr dentro da noite para a clínica cardiológica. A custo, sob angústia geral, recuperou-se. De volta ao Rio, retorna aos trabalhos. Não se permitiria pausa. Pelo contrário. Depois do aviso, entendia dever trabalhar mais e mais depressa.
Eram vários os escritos planejados. Pronto, faltando apenas a mensagem final: "Rui e a Oração aos moços". Concluído este, dar-se-ia ao antigo e já polido esboço, também muito próximo ao seu coração: "A França através de um hino". Amava esse trabalho. O habitual rigor na documentação chegara aqui ao auge. Fora a Estrasburgo ler os jornais de 1792, a fim de conhecer o clima e o ambiente da cidade àquele tempo. Quisera conhecer a casa do prefeito Dietrich, na qual Rouget de Lisle cantara pela primeira vez o hino que convulsionaria o mundo. Ernesto Leme - espécie de vade-mecum afetuoso, porém fiel no que se refere a Soares - assegura-nos que poucas páginas foram escritas, em língua portuguesa, iguais àquelas em que o meu antecessor descreve o bimbalhar, o rufar, o clangorar, o conclamar dos sinos de Estrasburgo. Pois bem - essas páginas, esse esforço de decênios estão perdidos, os originais em mãos desconhecidas. Grande trabalho prestará às letras quem os localizar. A Literatura, a França, a Marselhesa e Soares de Melo bem que o merecem.
Os planos literários não paravam aí. Um terceiro, empolgante e difícil tema mobilizara seu entusiasmo: a revisão do julgamento de Jesus Cristo. Empregara anos em acumular documentação, pesquisas em todos os locais possíveis do Brasil, da Itália, da Jordânia, de Israel.
E ainda, com o otimismo de quem acredita dispor de todo o tempo, planejara incursão final em um mundo particularmente apreciado: a Faculdade de Direito. Frequentara esse terreno, bem antes, ao assinar, com Ernesto Leme, o volume "Perfis acadêmicos". Porém projetava evocar minúcias, enriquecer com depoimento saudosista e emotivo uma bibliografia já bastante alentada.
Saiu em viagem. Descansaria em Paris e pesquisaria detalhes. Logo além do Atlântico, algo o teria advertido de que o momento era o de voltar, não o de seguir. No mesmo passo com que desembarcou no Rio de Janeiro, quis vir para São Paulo. "Não vá!", pediram. "Não venha!" aconselharam. "Espere, descanse!" Concedeu, impondo: "Mas amanhã, sem falta, irei para São Paulo!" Efetivamente, no dia seguinte, 22 de novembro de 1971, José Soares de Melo voltou a São Paulo. Dessa vez, para sempre. Regressava morto. Mas vivo está ele, aqui conosco, na saudade dos que o conheceram, na imortalidade do que nos legou.
Em seu lugar, por escolha da Academia, subo para a cadeira vinte. Não direi que venha ocupá-la, mas que irei partilhá-la com a memória dessas figuras que não podem ser substituídas: Reinaldo Porchat e José Soares de Melo. Personalidades quê foram retratadas na definição que Robert Louis Stevenson nos deixou do "homem que venceu na vida". Esse triunfador "é aquele que viveu bem, riu muitas vezes e amou muito; que conquistou o respeito de homens inteligentes e a admiração dos jovens; que preencheu um lugar e cumpriu uma missão; que deixa o mundo melhor do que o encontrou, seja por uma nova flor, um poema perfeito ou a salvação de uma alma; que procurou o melhor nos outros e deu aos outros o melhor de si". Porchat e Soares foram precisamente assim. Fizeram assim, exatamente.
Reconhecendo o quanto é pesada a herança e a participação, quero apoiar-me no pensamento de que eles ainda vivem conosco, comigo, graças à sua lembrança, aos seus exemplos, aos seus escritos. Evoco Niccoló Machiavelli descrevendo a um amigo os dias de exílio em San Casciano. Pela manhã, trabalhava como os assalariados; à tarde convivia com os aldeões ao nível de aldeão. Mas à noite fechava-se na biblioteca povoada pelos clássicos helenos e latinos. "No portal do estúdio - descreveu - dispo-me da trivial aparência cotidiana, envergo roupagens curiais e assim dignamente preparado adentro o cenáculo desses nobres senhores, e por eles afavelmente recebido farto-me do alimento espiritual que é o meu agrado e para o qual nasci; não me envergonho em falar-lhes, interrogá-los a propósito de suas ações e de seus escritos e eles, com sua liberalidade, esclarecem-me; não sinto o tempo correr, esqueço as mágoas, não receio a pobreza, não me assombra a morte; todo eu integrado neles". Assim penso em vós, assim quero conviver convosco, Reinaldo Porchat, José Soares de Melo.
Vejo, nesse convívio, a imortalidade verdadeira. A sucessão de experiências, o colóquio harmonioso das gerações indiferentes à passagem do tempo, mantendo inalterada a essência do homem de letras: a inquietude intelectual. Esse tipo especial de convivência e de continuidade é, felizmente, um apanágio acadêmico.
Pois entendo serem muitas as:
FUNÇÕES DAS ACADEMIAS
Paul Pellisson, biografando a Casa de Richelieu que veio a ser o modelo das várias Academias, descreveu o proceder e as preocupações dos que se reuniam na rua de Saint Martin: "conversam familiarmente, como numa visita comum, sobre todos os assuntos, novidades, belas-artes. Sem barulho, sem cerimônia, sem outra lei se não a da amizade, aproveitam do que a reunião de espíritos e a vida dos que pensam tem de mais doce e de mais encantador". Era assim, nos idos amenos de 1629.
O nosso tempo exige mais do que o principal - definido nos Estatutos: "cultura da língua e da literatura nacional". Altino Arantes, homem público de visão larga e culto ex-presidente desta Casa, definiu bem o conceito atual: "não deve viver alheia ou arredia aos assuntos que se relacionam com as vicissitudes e com os interesses da comunidade, uma vez que, como fator histórico-social que é, tem que aprofundar as suas raízes na terra e na gente donde lhe provêm a seiva, a força e a estabilidade".
Assim vejo a Academia: estudando e aprimorando o idioma, fiel ao passado, receptiva ao futuro, consciente de que o povo é o maior e o mais fecundo dos autores. A obra do passado está preservada, a era da cibernética pode vir e entrar.
A SEMANA DE ARTE MODERNA - 1922
Esta aceitação é parte do destino de São Paulo intelectual. Este 1972 - Ano Internacional do Livro - assinala também o cinquentenário da Semana de Arte Moderna, divisor das águas literárias e das artes brasileiras.
Exaltada e denegrida, superdimensionada e diminuída, a Semana deixou lições. A do sadio inconformismo que propõe alternativas e não apenas opõe negativas; a da coragem para definir idéias e de lutar por elas. A Semana é imortal, é acadêmica em si mesma, como idéia e realização. Tem meio século e provoca a mesma luta, alinha defensores e enfrenta demolidores. É exemplo, é advertência que me acompanha, Academia a dentro.
Senhor Presidente. Senhores Acadêmicos. Amigas. Amigos.
Para isso venho, trabalhador intelectual sem títulos e sem louros, mas entusiasta e pertinaz. Para o cultivo do idioma, para o estudo e o incentivo à criação literária, para oferecer experiência e aprender com a convivência. Enfim, para ser vosso auxiliar - senhores acadêmicos - no aprofundar raízes de pesquisa, de amor, de fixação, na terra e na gente que nos dão a seiva: a minha terra, a minha gente. Amigas, Amigos - ajudai-me a cumprir o meu voto.
Confrades - companheiros do ideal - acolhei-me entre vós.
 voltar
voltar