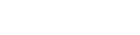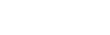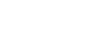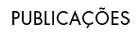|
 |

Acadêmico: Mary del Priore
Ao me acolher, os senhores consagram minha adoção por São Paulo. Lugar de minha formação intelectual e de meu coração, São Paulo é a terra dos meus ancestrais e aquela de meus filhos e netos.
Excelentíssimo Sr. Presidente, José Renato Nalini, excelentíssimo e querido vice-presidente Gabriel Chalita, meus adorados familiares, estimados amigos, senhoras e senhores.
É com um misto de honra e gravidade que abro a porta desta casa. Existem honrarias perigosas. Eu gostaria de afrontar com o coração mais leve, menos inquieto, essa que os senhores me outorgam no dia de hoje. Às portas desta Academia, meço minha insuficiência. Porém, uma vez eleita, assumo minha condição com enorme alegria, e por que não, com orgulho. Pois, além do prazer de, doravante, integrar a Academia Paulista de Letras, existe a admiração pela cultura dos confrades, por seu profundo sentido das realidades humanas cuja riqueza se lê através do percurso e das convicções de cada um. Convicções plenamente vividas nesta casa que oferece aos seus membros, e agora a mim, um pacto com o espírito e com as letras.
Ao me acolher, os senhores consagram minha adoção por São Paulo. Lugar de minha formação intelectual e de meu coração, São Paulo é a terra dos meus ancestrais e aquela de meus filhos e netos. São Paulo me formou como professora e escritora. São Paulo é a cidade das minhas amizades fraternas, de meus editores, de meus mestres e professores. São Paulo que faço minha e onde vi crescerem minhas raízes como alguém que fez das palavras um ingrediente essencial de felicidade e liberdade.
Pertencer à Casa, estar entre os seus membros, é também lembrar. Lembrar os que não estão mais. Dar-lhes vida, fazê-los presentes, quitar o dever de reconhecimento em relação a eles. Homenageio-os, então, ainda que de forma modesta, pois o próprio Joaquim Nabuco ao escrever sobre o pai confessou que é difícil reduzir grandes homens a poucas linhas. E Roland Barthes acrescentaria que ao fazê-lo, falta o mais importante: o sorriso, os gestos, o gostos. Haveria muito a dizer dos oito grandes nomes que foram meus predecessores na cadeira de número 39.
Seu patrono, Gabriel José Rodrigues dos Santos, advogado e secretário do governo de São Paulo em 1834, destacou-se por seu espírito liberal e a participação na Revolução anticonservadora de 1842, em razão da qual foi preso, julgado e absolvido. Grande tribuno, ocupou por várias vezes a Assembleia Legislativa e consternou a comunidade acadêmica do Largo de São Francisco ao partir aos 42 anos. Foi “cedro que o vento derruba na poeira...soldado que morreu junto à bandeira”, resumiu José Bonifácio, o moço. Seu fundador foi Pedro Manoel de Toledo, gigante da vida paulista, nascido em família de tradicionais políticos do império, fundador do Partido Republicano e protetor da capital durante a Revolução Federalista. Ministro da Agricultura, embaixador na Itália, defendia o voto secreto, tema que lhe inspirou um livro. Seus grandes embates ocorreram durante a ditadura de Getúlio Vargas, quando participou ativamente da Revolução de 32. Ambos foram homens que tiveram coragem e ousaram atacar o que atemorizava: a perda de liberdade, a violência, a ditadura - temas que voltaram a nos assombrar. Eles deram à política o lustro da audácia, colocando seus ideais à serviço da coletividade. E, como diria Max Weber, eles viveram “para a política e não da política”. Raridades, nos dias de hoje.
Toledo foi sucedido por José Geraldo Vieira, um dandy carioca, morador do Largo do Arouche onde possuía apartamento recheado com belíssima coleção de obras de arte a endossar sua sofisticação como crítico e escritor. Autoproclamado pioneiro do romance urbano, desprezava os regionalismos do qual Jorge Amado era então o papa, e criticava as vanguardas artísticas que considerava “coisificadas”. Tão impregnado de Portugal onde viveu anos e lhe inspirou A quadragésima Porta quanto do aroma de seus cachimbos, Vieira investia na erudição. Senhor de respostas rápidas, era cronista do jornal O Estado de São Paulo. Em seu lugar, chegou depois de rija batalha, o jornalista Mário Donato. Ele sofria, segundo biógrafos, do “desejo excessivo de ajudar os outros”. Apaixonado pela ópera de George Gershwin e pelos ritmos das “big bands” foi dos primeiros comentaristas de escritores norte-americanos como Steinbeck, Mailer e Faulkner. Tão elegante no vestir que “até de pijama parecia estar usando gravata”, teve que enfrentar a fúria das “senhoras cristãs” que organizaram passeatas contra a publicação de seu sensual Presença de Anita. Fundador da União Brasileira de Escritores, Donato dirigiu por muito tempo a Rádio Excelsior. Morreu “em machadiana solidão” – disseram dele. Paulo Vizioli o sucedeu e professor de literatura inglesa e americana na faculdade de letras da USP, legou-nos as melhores traduções de William Blake, uma coletânea da então desconhecida poesia estado-unidense e a organização das obras de James Joyce que lhe valeram o prêmio Jabuti. Capaz de manusear as sutilezas da língua, de adaptar a essência da mensagem dos autores, de estabelecer passarelas entre os idiomas, o excelente tradutor tinha que ser também senhor de uma escrita, fluida e ao mesmo tempo rigorosa. Vizioli que tinha todas essas qualidades, partiu precocemente, durante uma viagem à Florença.
O sexto ocupante da cadeira foi Benedito Lima de Toledo, professor de história da Arquitetura da USP e um dos maiores defensores de nossos monumentos históricos e tradições. Foi pioneiro em apontar a destruição da Serra do Mar, acusando o que chamou muito justamente de “emporcalhamento” da flora, fauna e monumentos que ali se encontravam quando da construção da rodovia dos Imigrantes. Denunciou o descaso com queimadas e o esgoto em que se transformava a represa Billings. Suas intervenções apaixonadas em favor da memória de pedra e cal, a começar pelo Engenho dos Erasmos, construído em 1533 e marco da indústria que alavancaria São Paulo, até às fazendas de café que sugeria, precocemente, ver transformadas em pousadas, ecoavam em toda a parte. Lutou com unhas e dentes pela revitalização do Anhangabaú e pela “Lei sobre uso do solo”, pois descobriu que a população pobre desmatava para receber estímulos para reflorestamento.
Conselheiro do Condephaat, foi uma das vozes mais penetrantes a clamar pela preservação do patrimônio e das raízes num compromisso infindo com a cidadania e ao meio-ambiente. Legou um acervo documental gigantesco à FAU e quem o conheceu, lembra com saudade o “gentleman” bem humorado que ele foi. Rui Otake, que muito conviveu com Benedito, o sucedeu. Impossível andar pela cidade, sem encontra-lo graças aos seus mais de trezentos projetos e obras. Vale sublinhar o Hotel Unique, o Instituto Tomie Ohtake, o Parque Ecológico do Tietê. Aos trinta e um anos ganhador do prêmio Bienal de São Paulo, dizia querer fazer “da casa que o homem habita, um local tão intimista quanto universal; uma arquitetura antiódio, antiguerra, antiperseguição e antipreconceito” – valores, diga-se, tão atuais. Lutou pela preservação de bens culturais em todo o estado e como presidente do Condephat esteve entre os fogos do debate sobre a derrubada de casarões históricos na Avenida Paulista. Ohtake foi um arquiteto incessante, inquieto, sempre explorando outras possibilidades para a beleza. Dele diziam não colocar limites na liberdade criativa, e tampouco na liberdade dos que o cercavam.
Para o fim, deixei, de propósito José Bento Monteiro Lobato, quinto ocupante da cadeira, cuja obra é inestimável e que homenageio especialmente por ter sido o criador de um Brasil de letras e de histórias. Lobato foi uma porta aberta para que, crianças, nos tornássemos leitores. Mas, também foi um profeta de questões atuais. As denúncias que fez em Urupês, continuam válidas: o país segue pobre, doente, sem saneamento, sem livros, sem esperança. Ele que, foi defensor apaixonado do petróleo brasileiro, veria com o horror o preço da gasolina subir todas as semanas. Lembre-se que Lobato foi preso por seis meses por atacar a política do petróleo de Vargas. Sua admiração por Luis Carlos Prestes que considerava não o cavaleiro, mas o realizador de nossas esperanças, lhe valeu ameaças de morte e a perseguição de Associação dos Professores Católicos contra seus livros infantis. Tão atual esse nosso Lobato, em tempos em que a censura está de volta. Sobretudo a censura de extremistas de direita e de esquerda.
Santo? Não. Se festejamos o centenário da Semana de Arte de 1922, vale lembrar que, teimoso, Lobato nunca voltou atrás no injusto julgamento que fez sobre o expressionismo de Anita Malfatti. E quando perguntado, respondia: “Você gostaria de ver sua mãe pintada daquele jeito?”. Mas, mais importante. Neste mesmo ano de 22, Lobato lançou uma campanha em favor da valorização de livros e leitores, denunciando o que considerava um auto da fé contra os livros: a taxação sobre sua produção. Na época em que o Brasil era uma colônia literária de Portugal, ele fazia triunfar a bandeira do “livro nacional”. Ainda hoje, escritores lutamos contra modismos importados e best-sellers estrangeiros. O problema dos impostos sobre livros continua e o secular atraso educacional e de acesso à leitura de tantos compatriotas só alimenta “o deserto de homens e ideias” – frase de Oswaldo Aranha – para definir o que se tornou o país.
Complexo, o homem que era “mirradinho, pequeno e se escondia por trás de enormes taturanas que lhe cobriam os olhos”, foi um gigante - segundo Donato que o conheceu. De trato fácil, curioso, presidia em sua sala a reunião com os “sapos”, intelectuais da época que batalhavam contra o integralismo, cuja sombra, na forma de neo-fascismos, infelizmente está de volta.
Atualidade de Lobato pois ele é vítima de cancelamentos e nada mais atual e antidemocrático do que o “politicamente correto”. A livraria da editora que distribui sua obra foi recentemente invadida e teve funcionários ameaçados por colocar na vitrine uma exposição de seus livros. Lima Barreto o louvava por ter denunciado os problemas sociais e consagrava seu Urupês como “livro maravilha” – acho, aliás, que fanáticos desconhecem o apreço de Lima por Lobato. O que diria hoje Lima frente à violência dos que o consideram um “racista delirante”, uma “aberração” ou “um idiota”? Ambos, insisto, ambos foram parte, sim, de uma geração complexa, ao mesmo tempo racista e liberal. Eram tempos da República Velha que tinha como política a modernidade e o cosmopolitismo conjugados com eugenismo e as teorias fascistas vindas da Europa. Uma República que nunca mais!
Depois de uma temporada, como adido nos Estados Unidos, Lobato abandonou as especulações racialistas e presenteou a literatura infantil com três personagens negros e um quarto que representava a África: Tia Nastácia, Tio Barnabé, Saci Pererê e Quindim. Os dois primeiros, representantes do que chamamos de “patrimônio imaterial” da cultura brasileira - os saberes, a língua, - Tio Barnabé, um difusor do folclore e dos instrumentos africanos, e um rinoceronte que falava ugandês. O eugenista que Lobato foi, já não estava mais ali. Penso que em seus livros, os personagens não só ajudam a conhecer o mundo infantil, a construir nele as diferenças, mas, mais importante: a considerar a consciência da liberdade. Logo, a definir o que a criança quer ser como adulto: nem negros, pardos ou brancos, mas, homens e mulheres livres. Plenos para se pensar e se realizar. Ou como definiu Martin Luther King sobre seus próprios filhos: “que sejam julgados por seu caráter, não por sua cor”. Infelizmente, a orgulhosa estreiteza de espírito de alguns, a ignorância da continuidade histórica e a crença de que o presente se basta e que textos do passado não têm o que nos ensinar, são formas de adormecer consciências. E não de despertá-las. Sabemos: não se reescreve a totalidade do passado baseada em ideologias coevas. E não será com o cancelamento anacrônico e autoritário de antigos autores que construiremos “novos leitores”.
Ora, todos sabemos: trajetórias intelectuais são dinâmicas. E a defesa apaixonada de Lobato por um Brasil mais justo e mais igualitário nas décadas maduras de sua vida não podem ser identificadas às teses da juventude. Crianças ou adultos, Lobato nos ensinou o prazer de ler, de esquecer o que nos cerca, de encontrar sentimentos em palavras, de ressuscitar memórias, de viver outras vidas como se nossas fossem. E por trás do escritor, havia o homem. Nos 25 anos da publicação de Urupês, Oswald de Andrade, louvava seu “riso cheio de amanhãs, onde havia sobretudo uma honestidade integral, honestidade que não era deste mundo”.
O que pode fazer uma historiadora que adentra a Academia Paulista de Letras? Ela pode lhe oferecer sua liberdade de ação e pensamento, mas também sua responsabilidade. Sim, pois responsabilidade é uma resposta. Sponsio, spondere, afiançar, garantir, prometer, engajar-se. É responder presente. Mas responder de uma presença viva – logo mortal, imperfeita, repleta de asperidades. O historiador não pode se eximir desta experiência que condensa e articula o seu trabalho. Se ele busca no diálogo com o passado, dar um sentido audível à questão da responsabilidade, ele descobre um laço, ligando-o aos que não estão mais. Ele olha para este lugar de onde vem o apelo. Ele se volta para trás. Ser responsável é, portanto, fazer do Outro, do diferente, dos que se foram, não o mesmo. Mas um seu irmão.
Tal como todas as viagens que, desde a infância, conduziram minha paixão por história, o paradoxo da responsabilidade começa por uma partida que é prelúdio de descoberta de valores e princípios que nos ajudam a encontrar a estrada, a retomar a caminhada. E este percurso de combate em favor da história, da liberdade de opinião e de ideias, melhor trilhá-lo entre irmãs e irmãos. Os que, tenho certeza, me esperam nesta casa.
Como tantos colegas, faço história como quem exuma um cemitério. Só que nem sempre achamos os mortos. Ao aprofundar as escavadeiras que arranham o solo duro procuramos o passado inacessível. Sabemos que ele está lá, sob a forma de uma substância observável, tangível, cercada de precauções de uso, suscetível de ser trazida a vida. Tal quantidade de passado não é só terra, poeira e ossos. Pois para dar vida aos mortos, é preciso mais do que identificá-los. É preciso um caminho para encontrar o tom justo, o bom ritmo, a imagem, a cor, a música, a emoção, tanto para trazê-los à superfície, quanto para descrever o seu tempo. É necessário buscar as palavras, achar a visibilidade na invisibilidade, captar o som de passos perdidos, o balanço de uma flor, uma sombra na calçada. Uma sombra que poderia passar despercebida, continuar não nomeada. Ninguém a alcançaria, se o historiador não estivesse lá. Nessa ilustre Casa das Letras darei voz aos mortos. Dar-lhes-ei a palavra. Afinal, o jogo da língua e da expressão poética contam História. Tanto as palavras do escritor quanto a do historiador estão aptas para dizer o passado na sua inteireza e complexidade. Eles têm os meios para convidar os mortos a participar do banquete dos vivos. Primo Levi exprimiu melhor do que qualquer historiador, os horrores da guerra; ou Flaubert, a batalha de Waterloo e Machado de Assis, nosso Brasil do fim do Império.
História e literatura não competem entre si; são dois gêneros narrativos que não se confundem, não se anulam, mas que necessitam, um do outro. A escrita deve saber designar diferenças, dar lugar aos restos encontrados nos fundos de arquivos, fazer de maneira a que as zonas silenciosas se iluminem e tragam o passado de volta. Porque o historiador é o “poeta do detalhe”, como dizia Michel de Certeau, sua escrita deve religar as palavras e as pessoas. Pessoas que não são apenas seres feitos de sofrimento, mas, também, seres feitos de inteligência, alegrias e realizações.
O saber, o conhecimento, o amor dos livros e os livros, eles mesmos, aqui estão para testemunhar o percurso de uma instituição – a Academia Paulista - que faz da literatura um espaço de encontro. Que tem na poesia, nos ensaios, na crítica, no teatro, na história e na novela, não meras iniciais, nem valores menores na conduta de nossa existência, mas um ingrediente essencial da felicidade e da liberdade intelectual. Que tem na pena e na palavra, a arma contra a opressão, a desigualdade social, o racismo, a homofobia, o sexismo e a incompreensão das ideias. Mas, também tem o condão do diálogo, da troca, da delicadeza. A mesma delicadeza com que fui acolhida. A todos e por tudo, sou muito grata.
 voltar
voltar