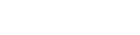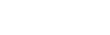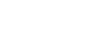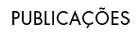|
 |

Acadêmico: Jorge Caldeira
"A vida de escritor é uma vida curiosa, vida feita de momentos opostos. O primeiro desses momentos envolve o esforço para conhecer e escrever sobre aquilo que se conhece. Esse momento é solitário, depende muito da vontade e da competência."
A vida de escritor é uma vida curiosa, vida feita de momentos opostos. O primeiro desses momentos envolve o esforço para conhecer e escrever sobre aquilo que se conhece. Esse momento é solitário, depende muito da vontade e da competência.
Porém, por mais pleno que seja, pode levar exatamente a nada. Parafraseando João Cabral de Melo Neto, um escritor sozinho não tece uma manhã. Ele depende inteiramente de um leitor que apanhe seu grito e o lance a outro, e de outros que apanhem o grito deste e o lancem a outros ainda, até que, como diz o poeta, “se cruzem os fios de sol de cada grito para tecer a manhã”. E manhã feita de “um tecido tão aéreo que, tecido, se eleva por si”.
O livro é apenas o primeiro momento de uma obra coletiva, que começa onde acaba o esforço individual do escritor. A grande obra de tecer fica por conta dos leitores. O momento do reconhecimento depende totalmente dos outros.
Esta diferença entre o esforço solitário para escrever e a pluralidade social envolvida no reconhecimento daquilo que foi escrito costuma ser radical. Na vida de um escritor, são muito raros momentos como este que vivo agora, quando esforço e reconhecimento coincidem, enquanto convivemos todos aqui nesta cerimônia.
Essa junção excepcional marca o ato em que me integro nos quadros da Academia Paulista de Letras. Neste ato, melhor ainda que ter o esforço reconhecido pelos que me recebem é o fato de ter sido escolhido, eleito para estar aqui. A vontade geral dos acadêmicos representa um galardão especial, um sinal de boas-vindas, que se soma ao do reconhecimento implícito na escolha.
Recorro a essa ideia, que Celso Lafer formulou inspirado em Hannah Harendt, para agradecer aos acadêmicos que, por sua vontade, permitiram-me chegar a este ponto de encontro, no qual nossa relação muda.
Por sua generosidade, fui acolhido para suceder a Rubens Teixeira Scavone na cadeira 18. Essa generosidade me transformou, agora empossado, em membro da Academia. E, transformado em membro, ganho o direito de também transformar a condição daqueles que me elegeram. A partir de agora, posso tratá-los como iguais, confrades e confreiras.
Este momento de encontro e mudança mútua completa um processo, que começou no exato instante em que Miguel Reale Jr., cujas generosas palavras de recepção muito agradeço, fez o primeiro contato sobre a possibilidade de uma candidatura.
Devo confessar que, até aquele instante, jamais me havia passado pela cabeça sequer a ideia de me candidatar a uma academia. Mas também é preciso admitir que aceitei o convite no ato, sem vacilação.
Daquele instante em diante, por todo o tempo da campanha e eleição, eu sabia que estava deixando uma pergunta no ar. Faltava apenas saber quem seria o primeiro a fazê-la. E a formulação veio, mais clara e direta do que eu jamais poderia imaginar. Logo depois da eleição, meu velho e caro amigo Paulo Henrique Cardoso veio do Rio de Janeiro com sua mulher, a adorável Evangelina Seiler. Marcamos um jantar de casais, com a presença de minha querida Lucia. E veio também, para completar a festa, a mãe de Paulo Henrique, Ruth Cardoso.
Quem tem a felicidade de conhecê-la sabe que ela não perde tempo em rodeios. Dito e feito. Assim que me viu, disparou: “Mas, Cafu, o que é que você foi fazer numa academia? ”.
Eis a pergunta. Tão boa que a resposta a ela se tornou o tema central deste momento.
Como jornalista, minha primeira ideia foi começar pelo item mais atraente.
Como vocês sabem, no caso de uma academia, o que há de mais atraente é o chá.
Sim, o ritual do chá existe, ameno e agradável. Depois dele, segue-se uma conversa sem pauta específica, que é a sessão acadêmica. No caso da Academia Paulista de Letras, quarenta integrantes repetem os dois rituais regularmente, às quintas-feiras, há noventa e nove anos.
A eleição me deu o direito de assistir a esses rituais sem participar completamente deles, uma vez que ainda não tinha tomado posse. E devo dizer que na última reunião da qual participei nessa condição o ritual tornou-se menos atraente do que imaginava. Ouvi um acadêmico, com muitos anos de casa, protestar: “Esta sessão se passa no vácuo”. E, ainda mais, emendou motivo. Faltava razão clara para sua existência. Angustiado, exortou os colegas a lhe darem explicações sólidas para estarem todos ali, e concluiu pedindo programas claros, sentidos palpáveis para os rituais.
Ao ouvir isso, se posso dizer assim, faltou-me o chão. Com uma semana para fazer este discurso, preocupado em dar razões públicas para estar na Academia, fiquei inteiramente perdido. Se nem os mais experientes encontram o sentido de sua união, ele certamente deveria estar fora do alcance de um novato como eu.
Nesse momento de desespero, valeu-me muito a carinhosa calma de meu amigo Candido Bracher. Encontrei-o logo depois da sessão, quando fui combinar com sua mulher, Teresa, uma fundamental participação nesta cerimônia. Para quem não sabe, Teresa Bracher preside a ACTC, Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente Cardíacos e aos Transplantados do Coração. E faz isso com um amor imenso, do que resulta alegria para todos os que chegam perto, seja como pacientes, seja, como no meu caso, na condição de voluntários. Por isso, minha primeira decisão sobre esta posse foi a de pedir à Teresa para trazer um pouco dessa alegria para cá. Mais uma vez, ela não faltou, e vocês já devem ter visto um pouco das maravilhas que se operam na ACTC no saguão de entrada.
Mas naquele instante, dizia eu, o Candido teve o bom senso de comentar que tinha uma ponta de inveja por eu ser jovem para um acadêmico. E explicou: é bom enfrentar desafios cedo, porque assim se pode aprender mais.
Ouvi o sábio comentário e fui buscar um caminho para aprender. A oportunidade apareceu quando depositei oito livros de minha autoria na chamada Estante Acadêmica, que guarda as obras publicadas pelos patronos das quarenta cadeiras, além daquelas de seus ocupantes ao longo do tempo. Logo notei que era uma estante mais recheada do que imaginava.
Curioso, fui até a bibliotecária, a Rubenira, e perguntei: “Quantos livros tem aí?”. Ela ficou um tanto embatucada, porque o sistema informático não respondia de pronto a pergunta. Foi necessária uma pesquisa de alguns dias até chegar a um relatório listando nada menos que 3.829 livros publicados.
Fiz contas rápidas. Para uma instituição com quarenta cadeiras e noventa e nove anos, a produção média de cada acadêmico chegaria a 0,97 livro por ano, ou seja, quase um livro por ano. É um número expressivo. A estante, em sua materialidade, começava a mostrar algo bem mais sólido do que o vácuo projetado pelo ritual.
A consulta aos livros permitiu continuar no caminho do bom conselho do Candido. Para aprender mais, resolvi me enfurnar neles, buscando uma resposta para explicar o que mesmo eu estava fazendo ali.
A descoberta inicial apontava que a conta da produção era modesta. O primeiro nome que procurei me obrigou a recomeçar a busca fora da estante, pois nela não há um único trabalho do patrono da cadeira 18, Antonio de Toledo Piza. Descobri duas dezenas de bons trabalhos, e uma história que vale a pena contar.
Nascido em Capivari no dia 2 de abril de 1848, Toledo Piza desde cedo revelou tendências republicanas. E decidiu abraçar a causa para construir também um destino pessoal. Isso envolveu deixar a agricultura para ser professor escolar em Porto Feliz, deixar a cidade para estudar engenharia nos Estados Unidos, trabalhar como engenheiro ferroviário no Tenessee e, de volta a São Paulo, montar a primeira fábrica de cerveja da Antártica.
Com a Proclamação da República, Toledo Piza mudou de vida outra vez. Foi instalar uma seção de estatística para o novo governo e reorganizar o Arquivo do Estado.
Aos 41 anos, nasceu um historiador tão peculiar como sua biografia pregressa. Ele tinha ideias novas sobre história do Brasil. Nos tempos do Império não havia lugar para a história no mundo público, e ela dependia somente de iniciativas particulares. Para republicanos como ele, o assunto deveria merecer atenção permanente do governo, mas com uma ação voltada para a sociedade.
Uma vez posto na direção do Arquivo Público, Toledo Piza tratou de moldar uma instituição capaz de lidar com essa visão. Começou a juntar documentação da vida comum, até então totalmente desprezada. Guardou inventários, testamentos e processos, peças importantes para uma abordagem menos oficialista da história.
Os trabalhos publicados por Antonio de Toledo Piza tratam da história paulista e isso era outra novidade. Até então, sendo o Império um estado unitário, a história local também não valia nada.
Os muitos artigos que escreveu tinham, no geral, foco nas ações dos cidadãos no sentido que a palavra cidadão assumia no tempo, isto é, os eleitores qualificados dotados de direitos políticos. Buscavam mostrar o modo como esses cidadãos interessados e não o soberano ou o governo haviam construído o cerne da nação. Era, enfim, a história como vista por republicanos, que melhor podiam ser entendidos como federalistas ao modo norte-americano.
Gosto especialmente de um desses artigos. Chama-se “O suplício do Chaguinhas” e narra em detalhes a execução da sentença de morte de um simples cabo.
Francisco José das Chagas foi condenado, em 1821, por “ameaçar a ordem”. Ele comandou uma revolta em seu batalhão para receber os soldos, que estavam nada menos que cinco anos atrasados. Mas fez isso num momento em que conservadores e liberais, embora unidos no governo da capitania pelo projeto de independência, tinham seus temores. Estavam de olho nas reações populares e agiram para impedir o que consideravam perigo maior, a sublevação. Pensando em dar exemplo com a punição severa de um revoltoso, decidiram não pedir perdão ao rei, como era costume, e mandaram executar o condenado.
Porém, na hora do enforcamento de Chaguinhas, a corda se rompeu, o que era considerado sinal de inocência do condenado. A multidão se comoveu a ponto de conseguir suspender o ato. Novo apelo de clemência foi feito ao governo, que mais uma vez o recusou, novamente com apoio dos dois partidos. Na segunda tentativa de enforcar, a cena da corda rompida se repetiu. A vila entrou em comoção e os dois partidos voltaram a unir-se para mostrar autoridade. Somente na terceira tentativa o cabo foi enforcado, agora com uma corda de couro trazida do matadouro.
Para aqueles que não sabem, a comoção do episódio durou. Quem quiser saber quanto que vá ver os populares que ainda hoje acendem velas para a alma do Chaguinhas, no exato local onde foi enforcado, hoje ironicamente denominado Largo da Liberdade.
Toledo Piza escreveu seu brilhante artigo em 1899, muito antes de ideias como “história dos vencidos”. Apenas esse trabalho bastaria para justificar por que a Academia Paulista de Letras, fundada em 1909, quatro anos depois de sua morte, escolheu seu nome para patrono da cadeira 18.
E, no caso da cadeira 18, essa influência direta não está presente apenas na homenagem ao historiador.
Benedito Otavio de Oliveira, o primeiro titular, era quase uma prova viva da mudança trazida pela educação republicana. Se Antonio de Toledo Piza tinha largado a agricultura para se tornar professor, Benedito Otavio só chegou a ser alguém na vida porque alguns republicanos largavam carreiras para serem professores.
Ele nasceu em Campinas em 1871, o mesmo ano em que Toledo Piza foi ser professor em Porto Feliz e no qual Francisco Rangel Pestana, deputado nacional, abandonou Parlamento e Corte para se tornar republicano e ser professor de crianças em Campinas. Ali, juntamente com os militantes locais, ajudou a fundar escolas noturnas para pobres e escolas femininas, além de participar da fundação do Colégio Culto à Ciência, que existe até hoje. Ele mesmo dava os cursos de história do Brasil.
Nascido pobre, Benedito Otavio foi alfabetizado por essa rede republicana e começou na vida como modesto tipógrafo da Gazeta de Campinas, jornal do republicano Joaquim Quirino dos Santos, que reunia jovens como Julio de Mesquita ou veteranos como José Maria Lisboa.
A forte influência da militância republicana está presente em toda a obra de Benedito Otavio, que inclui teatro, romance, poesia e muitas traduções. Dentre os diversos trabalhos que impuseram seu mérito acima da condição social na hora da escolha pela Academia, destacaria Campinas antiga.
Com a mesma técnica do recurso ao documento para narrar episódios cotidianos, mostrando neles toda a teia do poder na sociedade, Benedito Otavio traça um delicioso retrato de uma visita do imperador a sua Campinas natal, em 1846. Todas as discussões cerimoniais, cavalhadas, te deuns e disputas hierárquicas por lugares são mostrados em minúcias. Fica-se sabendo desde o preço dos arreios dos cavalos até o nome do garoto de 13 anos que tocou violino na orquestra, certo Antonio Carlos Gomes.
E, pelo livro, sabe-se também que Benedito Otavio tinha várias outras obras que não estão na biblioteca da Academia, entre elas, uma intitulada Venda grande, que trata do episódio central da simbologia histórica republicana da época: a batalha da revolução de 1842, que sepultou as esperanças federalistas no Império.
O federalismo seria uma marca ainda mais forte na obra de seu sucessor na cadeira a partir de 1927. Alfredo Ellis Júnior nasceu já no período republicano, em 1896. Era filho de um senador do Partido Republicano Paulista e fez parte de uma geração que conheceu toda a transformação trazida pelas gerações do patrono e do fundador da cadeira 18 no modo de abordar a história.
Sua obra poderia ter sido uma continuação relativamente linear desse projeto historiográfico. Mas foi construída num cenário político e intelectual completamente diverso daquele vivido pelas gerações anteriores. A fixidez do modelo federalista, marca central do trabalho de Ellis, acabou se transformando em fulcro de um complicado diálogo com a conjuntura.
Ele publicou seus primeiros artigos em 1922. Era um momento de importantes questionamentos. O regime republicano trouxera para o Brasil um novo ritmo de desenvolvimento econômico, rompendo a pasmaceira imperial de uma economia contida.
Como resultado, surgiram novidades de sociedade aberta: greves; reivindicações de voto secreto e feminino; formação de uma burguesia industrial; o movimento modernista de 1922; uma renovada militância política, nascida da realidade do socialismo como regime de governo, a partir da revolução russa de 1917.
O jovem Alfredo Ellis Júnior gostava desses sinais da modernidade. E via seus aspectos positivos como fruto do federalismo e da liberdade, deixando os negativos na rubrica dos problemas facilmente solúveis com mais federalismo e liberdade.
Em seus primeiros trabalhos, como O bandeirismo paulista e o recuo do meridiano ou Raça de gigantes, lançou o que poderiam ser as bases interpretativas desse marco de explicação da modernidade pelo federalismo.
Ellis apresentou a miscigenação com o índio e não as eventuais ligações com a nobiliarquia portuguesa ou a civilização ocidental como o elemento central de formação de uma sociedade aberta de empreendedores. Teria gerado uma raça mista de bandeirantes, capaz de construir o verdadeiro desenvolvimento ao modo americano nos trópicos, longe dos olhos e normas de um governo colonial monárquico, burocrático, corrupto e atrasado.
Na década de 1920 ainda era possível para republicanos sonhar com a transformação de seus valores federativos e sua história de cidadãos em modelo nacional. Mas a revolução de 1930 transformou essa pretensão universal em arroubo regionalista.
Nesse processo, Alfredo Ellis Júnior esteve resolutamente do lado perdedor. Foi soldado na Revolução Constitucionalista de 32. Eleito deputado para a Constituinte de 1934, notabilizou-se por defender a transformação do Brasil numa Confederação, com máxima descentralização do poder. Opôs-se a todos os gestos de Getúlio Vargas, que, no mesmo período, concentrou poder na instância central, até o golpe de 1937.
O Estado Novo começou com uma missa, encomendada por um ditador ateu, para dar caráter sagrado ao governo, como no Antigo Regime. Ao fim da missa veio a parte civil da cerimônia, na qual se queimaram as bandeiras dos estados. Recado mais claro, impossível: federalismo seria, dali em diante, ideia para os inimigos do regime, contrária à fé e à Pátria.
O ex-deputado Alfredo Ellis Júnior cumpriu resignadamente seu novo destino de marginal político. Por um tempo, sua melhor atividade era jogar conversa fora com o amigo José Pires do Rio, que minha querida tia Odete, aqui presente, chama até hoje de padrinho. Mas logo estava na ativa em novo papel.
Ellis abriu nova trincheira: tornou-se o primeiro titular na cadeira de História do Brasil da Universidade de São Paulo. O professor continuou estudando personagens federalistas, como o regente que lutou em 1842, cuja trajetória analisou em Feijó e a primeira metade do século XIX.
No entanto, sua posição historiográfica logo se tornou tão minoritária como sua opção política.
O recomposto estado unitário criou seu próprio ideal de história, visível sobretudo na obra de Oliveira Vianna. Na nova ótica oficial, o bandeirante passou a ser encarado como figura social de baixa extração, mistura de degredado com selvagem. Tipo marginal, imprestável para servir como modelo de construtor da nação.
Esse elevado papel, segundo Oliveira Vianna, deveria ser reservado para gente muito mais nobre. Para ele, a nação não poderia nunca ser obra de um povo bárbaro, mas apenas resultado da ação educativa dos que comandaram o Estado no Império.
E curiosamente, na universidade, o modelo federalista encontrou oposição ainda mais radical. Ela veio da ponta oposta do espectro político. Tendo como ideal uma economia planejada, inteiramente controlada pelo Estado central, os comunistas nunca poderiam ser adeptos de uma ideia como a federação. Assim, a obra de Alfredo Ellis Júnior sempre foi vista pelos historiadores marxistas como protótipo da glorificação de uma elite cafeeira liberal e decadente.
A condenação de uma história com um mínimo de federalismo tornou-se, então, abrangente ideologicamente e, por isso, muito severa. Tal condenação sobreviveu a várias conjunturas e até à morte de Alfredo Ellis, em 1974. Abateu-se inclusive sobre a obra de seu sucessor na cadeira 18, Nelson Palma Travassos. Mesmo sendo editor de grande sucesso, e apesar do preparo, este produziu livros de história que sabia serem de recepção restrita a um âmbito agora privado, de quase impossível entrada no debate público. Tornou-se um memorialista. Seu trabalho mais conhecido, Meu tempo de mocinho, mostra, como bem disse Rubens Scavone, um autor que “acalenta os valores pretéritos sobre os do presente”.
Da mesma forma, seu sucessor, João Fernando de Almeida Prado, o Yan de Almeida Prado, que ocupou a cadeira 18 a partir de 1985, acabou sendo mais conhecido em público pela qualidade de sua vida particular do que pelas muitas virtudes da bela obra de historiador. Seu salão da rua Humaitá e sua adega farta renderam muito mais comentários escritos que o bem montado retrato do Brasil no século XVI traçado em Primeiros povoadores, Pernambuco e as capitanias do Norte, Bahia e as capitanias do Centro, São Vicente e as capitanias do Sul, além de A conquista da Paraíba.
E, então, rompeu-se a tradição. Yan de Almeida Prado foi sucedido, a partir de 1988, por Rubens Teixeira Scavone. Depois de 79 anos, alguém que não era historiador ocupava a cadeira 18. Buscando nos livros, aprendi outra história que vale a pena contar.
Filho de um industrial e de uma amante de livros, ele viu uma revolução em casa quando entrou para a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco.
Nesse momento, sua mãe, Maria de Lourdes Teixeira, então com 37 anos, decidiu romper com marido e casamento. Pediu desquite e foi ganhar a vida como tradutora, tornar-se jornalista de renome e romancista de mérito.
Ela viveu a sociabilidade literária de seu tempo com a intensidade que só as pessoas vinte anos proibidas de fazer o que mais amam são capazes. Ao lado de um novo companheiro, José Geraldo Vieira, transformou a casa em salão. Recebia autores famosos e misturava-os com jovens. Foi assim que, numa única noite de 1954, reuniu em seu apartamento da rua Xavier de Toledo, só para citar aqueles que estão presentes nesta cerimônia, as confreiras Lygia Fagundes Telles e Ana Maria Martins, os confrades Paulo Bonfim e Fabio Lucas, além do meu caro amigo Jorge da Cunha Lima.
Todos eles estavam ali para conviver com William Faulkner, em visita a São Paulo. A recepção fazia parte daquilo que Ana Maria Martins, mais tarde, descreveria, numa conferência sobre a anfitriã, como “uma ebulição criativa, altamente significativa para a cultura”.
Todos esses pontos estão aqui para delinear uma característica, não apenas da mãe do acadêmico, mas da Academia Paulista de Letras. Maria de Lourdes Teixeira foi a primeira mulher eleita, ocupando a cadeira 12. E foi eleita por causa de sua biografia e atitudes menos convencionais, e não apesar delas.
Com sua luta, Maria de Lourdes criou um ambiente propício para as experimentações literárias do filho, Rubens Teixeira Scavone, meu antecessor na cadeira 18. Ele começou em literatura com um gênero pouco considerado no Brasil, a ficção científica. E, dentro dele, seu trabalho evoluiu no sentido de uma curiosa atemporalidade. Em Morte no palco, o protagonista é um astronauta que está em Júpiter, mas sonha em voltar para casa e ali contar histórias de bruxas e gigantes para os filhos, até o fim trágico, assim narrado: “Caiu para frente, com toda massa de seu equipamento, e levantou uma nuvem cinzenta, como se fosse um cavaleiro medieval com sua armadura”.
Essa possibilidade de juntar passado e futuro com imagens simbólicas, além de mostrar grande capacidade narrativa de Rubens Teixeira Scavone, talvez ajude a dar resposta para a questão central deste discurso: explicar a necessidade pessoal de convívio que me trouxe a esta Academia.
Completado o passeio pelos livros da estante, que ofereceu fios para tecer um entendimento, volto agora mais centrado ao momento em que aceitei o convite. Estava terminando um segundo ciclo de pesquisas e trabalhos com minha maravilhosa equipe, na Mameluco Produções, que dirijo em parceria com Assahi Pereira Lima. O primeiro ciclo, que durou uma década, tinha como tema o Brasil. Já o segundo, que durou cinco anos, resultou do desenvolvimento de projetos que, sem um plano deliberado, envolviam São Paulo.
O esforço começou com a biografia do padre Guilherme Pompeu de Almeida, empresário metalúrgico e banqueiro do século XVII, biografado em O banqueiro do sertão. Continuou com a grande pesquisa sobre Jose Bonifácio de Andrada e Silva, que resultou no site www.obrabonifacio.com.br. Passa por uma pesquisa sobre Victor Civita, que vem dando a oportunidade de conviver mais com o maravilhoso primo, Thomaz Souto Correa. E incluiu, como grande aprendizado, o texto do livro Votorantim 90 anos: uma história de trabalho e superação. Ao longo de três anos de trabalho, pude aprender um pouco mais sobre a imensa obra do confrade titular da cadeira de número 7, Antonio Ermírio de Moraes. A construção de um dos maiores grupos empresariais do Brasil, suficiente para compará-lo aos empresários mais importantes de nossa história, é apenas um pedaço dessa obra.
E apesar de tanto esforço e aprendizado, ao final do ciclo eu vivia uma sensação mista. Havia a alegria por saber mais da história de minha terra. Mas tinha também um travo amargo. Como historiador, tudo que aprendi não era suficiente para contestar a frase danada de Nelson Rodrigues: “Não há solidão maior que a companhia de um paulista”.
Explico. Depois de três anos convivendo literariamente apenas com paulistas, estava acabrunhado. A história regional de São Paulo continua ainda sob o interdito de recepção erguido nos anos 1930. Enquanto em qualquer estado do Brasil a celebração das diferenças locais é uma virtude, seja vestida de bombachas, acarajés ou ipanemas, mostrar as de São Paulo é ameaça à integridade nacional, discurso de supremacia, ato de separatismo.
Cria-se, assim, um paradoxo. De um lado, é como se os paulistas só tivessem direito a viver a modernidade em casa e nos encontros pessoais, exprimi-la na literatura, mas não o de colocarem-na no espaço público da história nacional, nem mesmo como algo regional. Do outro, é uma patente impossibilidade explicar a modernidade em São Paulo como fruto da ação do governo central, como requerem os enquadramentos historiográficos ainda dominantes.
Tal dilema estava se tornando tormento pessoal. E aí recebi o telefonema de Miguel Reale Júnior para a candidatura. Entendi que era uma oportunidade para me livrar da situação excruciante.
Foi ótimo. Tão isolado estava que, só depois de aceitar, descobri que havia outro inscrito para a eleição, um homem que foi governador de Estado, gosta da Academia e conhece muito melhor que eu os caminhos para resolver seus problemas.
Mas tive a imensa felicidade de ver os acadêmicos tenderem para o cidadão comum, em vez da muito razoável ideia de optarem por um governante capaz.
Ao fazerem isso, renovaram em mim uma lição republicana.
Tento ensinar essa lição a meus filhos, Violeta e Julio. E faço isso porque gostei de receber essa lição de minha saudosa mãe, Carmen Pires do Rio Caldeira, acompanhada da casa repleta de livros da história do Brasil que ela tanto amava e do contínuo suporte para avançar no caminho da leitura e do conhecimento.
Mais ainda, tive seguidas ocasiões de ver a lição reforçada pelos atos de meu pai, o oftalmologista e professor Jorge Alberto Fonseca Caldeira, aqui presente. Nunca vou me esquecer do dia em que ele, num jantar, contou que havia recebido um recado: se um parente de uma alta autoridade do governo fosse aceito na residência, que ele comandava, a cadeira teria um grande apoio. Quando perguntei o que havia respondido, foi direto como sempre: “Falei que bastava inscrever a pessoa na secretaria. Se ela passasse no exame, fazia residência”.
Nesse dia, ele ganhou um inimigo político rancoroso e um filho orgulhoso, com crença reforçada na velha lição.
E repito aqui a lição, reconhecido, alegre e feito acadêmico. Dizer que alguém é um bom cidadão é o maior elogio que um paulista comum, mas que foi preferido a um governante, pode fazer a alguém.
E digo isso com imensa alegria, em público, sobre um governante que jamais quis posar de rei ou milagroso, o nosso muito honrado cidadão Fernando Henrique Cardoso, que engrandece esta Academia com sua presença.
Frente a um presidente com lugar na história, posso terminar este meu relato tocando no ponto final de toda a simbologia acadêmica: a imortalidade. Sobre isso, tive, desde sempre, posição clara, ditada pela sabedoria de minha amada Lucia Azevedo. Ela, por sua vez, aprendeu a lição com sua avó, Lucia Assumpção do Amaral, mulher do acadêmico Afrânio Amaral, que foi titular da cadeira 17. Cada vez que este dizia estar saindo para uma reunião com seus pares imortais, dona Lucia disparava: “Semi-imortais, porque esta é uma academia de província”.
Que seja, pois. Nesta semi-imortalidade de província, minha cara araraquarense Ruth Cardoso, vou terminar esta resposta homenageando a seu modo, tentando explicar a Academia na linguagem da modernidade, aquela em que você me criou.
A Academia Paulista de Letras é uma ONG, e ONG muito peculiar. Uma ONG onde homens e mulheres amantes das letras se reúnem há noventa e nove anos para combater, enquanto enchem estantes de livros, a solidão inexorável do trabalho da escrita. Para tecer, em suas tardes de chá e debate coletivo de ideias, a rede que liga o escritor a seu público. Uma rede infinita, enquanto dura uma conversa.
É um espaço tênue de diálogo. Mas diálogo altamente democrático. A regra é clara: qualquer um pode inscrever-se, e a escolha é feita pelo voto. E não poderia ser diferente. A igualdade dos membros é metáfora da igualdade entre o escritor e seu leitor na construção da obra. Tal ideal metafórico contrasta com o mundo atual.
Os dois maiores centros de produção intelectual de hoje são montados sobre critérios fundados na hierarquia. Na universidade, o critério é a qualificação pelas quais se distribuem cargos. No jornalismo, a capacidade profissional de fazer relatos em prazos estritamente determinados.
Para que tais critérios sejam cumpridos, é necessária uma distância total entre o escritor e seu público. No primeiro caso, o conhecimento visto como técnica embasa a separação entre o especialista que escreve e o leigo que lê. No outro, um conjunto de exigências de formatação faz o mesmo, separando narrador e público.
A Academia, tendo por finalidade superar ritualmente a distância entre escrita e recepção, não pode ser instituição pública de domínio técnico, nem empresa de domínio profissional. É, estruturalmente, uma ONG.
Com uma leve e aérea esperança, fui eleito para fazer parte desta ONG, a ONG do diálogo diáfano.
Aqui estou.
 voltar
voltar